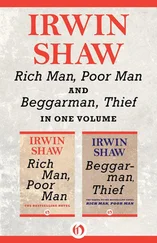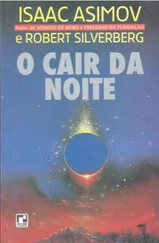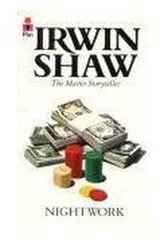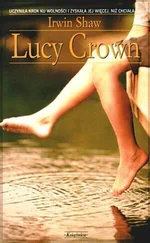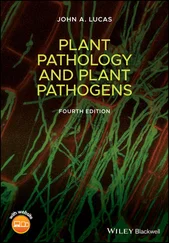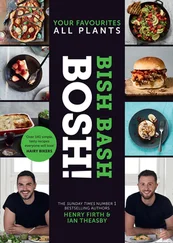Não sabia o que faria com o dinheiro guardado no subterrâneo do banco, mas pretendia gozá-lo. E não iria gozá-lo em Nova York. Sempre tinha querido viajar, e agora viajar seria não só um prazer, mas uma necessidade.
Acendi um charuto, reclinei-me na cadeira e pensei em todos os lugares que iria querer ver. Europa. As palavras "Londres", "Paris", "Roma" ecoaram agradavelmente no meu pensamento.
Mas, antes que pudesse atravessar o oceano, tinha coisas a fazer, pessoas que ver. Primeiro, teria de arranjar um passaporte. Nunca precisara de passaporte, mas agora ia precisar. Sabia que podia tirá-lo no Departamento de Estado, em Nova York, mas quem estivesse atrás de mim poderia deduzir que esse era o primeiro lugar aonde eu iria e poderia estar lá à minha espera. As chances não eram muitas, mas eu não queria arriscar uma que fosse.
"Amanhã", decidi, "vou a Washington. De ônibus."
Olhei para o relógio de pulso. Quase três horas. Os dois homens que tinham ameaçado Drusack pela manhã deveriam estar se dirigindo para o St. Augustine, ansiosos por fazer perguntas e prontos a obter de qualquer maneira as respostas. Sacudi as cinzas da ponta do meu charuto e sorri. "Este é o melhor dia que eu tenho há anos", pensei.
Paguei a conta e saí do restaurante, encontrei um pequeno estúdio de fotógrafo e posei para fotos de passaporte. O fotógrafo disse-me que elas estariam prontas às cinco e meia e aproveitei o tempo para ver um filme francês. Convinha ir-me desde já acostumando a ouvir a língua, pensei, confortavelmente instalado na minha poltrona, admirando as paisagens à beira do Sena.
Quando voltei ao hotel com as fotos no bolso (parecia um garoto), eram quase seis horas. Lembrei-me do bookmaker e fui até o bar procurá-lo. Estava sentado a uma mesa de canto, sozinho, bebendo um copo de leite.
– Como é que foi? – perguntei.
– Você está brincando? – retrucou o homem.
– Não. Por quê?
– Você ganhou – disse o bookmaker. O dólar de prata fora um bom augúrio. Minha dívida com o homem do St. Augustine ficava reduzida de sessenta dólares. Tudo numa tarde de sorte. O bookmaker não parecia satisfeito. – Você ganhou. Da próxima vez, diga-me de onde tira os palpites. E esse desgraçado do Morris. Por que lhe deu a dica? Não gostei.
– Simpatizo com os trabalhadores – falei.
– Trabalhadores! – resmungou o bookmaker. – Posso dar-lhe um conselho, amigo? Não deixe sua carteira onde ele a possa encontrar. Nem mesmo a dentadura. – Tirou uma porção de envelopes do bolso, passou-os em revista, deu-me um, guardou o resto outra vez. – Três mil e seiscentos dólares – falou. – Conte.
Embolsei o envelope.
– Não é preciso – retruquei. – Você tem um ar honesto.
– Sim. – O bookmaker bebeu um gole de leite.
– Posso oferecer-lhe uma bebida?
– Só bebo leite – respondeu o homem, arrotando.
– Acho que você escolheu o ofício errado, para um homem que sofre do estômago – comentei.
– Também acho. Quer apostar no jogo de hóquei desta noite?
– Acho que não – disse eu. – No fundo, não sou jogador. Até a vista, amigo.
O homem não respondeu.
Aproximei-me do bar, tomei um uísque com soda e saí para o hall. Morris, o rapaz das malas, estava de pé junto ao balcão.
– Ouvi dizer que o senhor ganhou uma bolada – disse ele.
– Nem tanto – respondi. – Mas até que o dia valeu a pena. Você seguiu a minha dica?
– Não – disse o rapaz. Via-se que era um homem que mentia pelo simples prazer de mentir. – Estive ocupado o dia todo.
– Que pena! – comentei. – Mais sorte da próxima vez!
Jantei um bife no restaurante do hotel, fumei outro charuto, tomei um conhaque depois do café, subi para o quarto, despi-me e deitei-me. Dormi sem sonhar doze horas a fio e acordei com o sol entrando-me pelo quarto. Não dormia tão bem desde que era garoto.
De manhã, fiz as malas e carreguei-as eu próprio até o elevador. Não queria mais conversas com Morris. Paguei o hotel com parte do dinheiro que ganhara no segundo páreo das corridas de Hialeah. À porta do hotel, olhei em volta cautelosamente. Até onde os meus olhos alcançavam, não havia ninguém esperando por mim ou que me pudesse seguir. Tomei um táxi e dirigi-me para a estação rodoviária, onde pegaria um ônibus para Washington. Ninguém pensaria em procurar numa estação rodoviária um homem que acabava de roubar cem mil dólares.
Tentei primeiro o Hotel Mayflower. Enquanto estivesse em Washington, achei que devia aproveitar o melhor que a cidade tinha para oferecer. Mas o hotel estava cheio, informou-me o recepcionista, dando-me a impressão de que, naquele centro de poder, para se conseguir um quarto era preciso ser-se eleito por larga margem de votos ou, pelo menos, nomeado pelo presidente em pessoa. Apesar dos pesares, ele teve a amabilidade suficiente de me indicar um hotel a cerca de um quilômetro de distância. Geralmente tinha lugar, acrescentou, no mesmo tom com que poderia ter dito que um seu conhecido costumava usar camisas encardidas.
Ele tinha razão. O prédio era novo, todo em metal cromado e pintura berrante, mais parecendo um motel à beira de uma estrada americana, mas havia lugar. Preenchi a ficha com o meu nome verdadeiro. Achava que, naquela cidade, não era necessário tomar tantas precauções para ficar anônimo.
Lembrando-me do que tinha ouvido falar sobre assaltos nas ruas da capital, coloquei prudentemente a carteira no cofre do hotel, deixando só cem dólares para as despesas do dia. Todo o cuidado é pouco. O perigo espreita à nossa porta. A pistola das noites de sábado é quem dita a lei.
A última vez em que eu estivera em Washington fora quando pilotara um charter de republicanos de Vermont para a posse de Richard Nixon, em 1969. Os republicanos tinham bebido um bocado, no avião, e eu passara boa parte do vôo discutindo com um senador bêbado, que fora piloto de um B-17 durante a Segunda Guerra Mundial e queria que o deixasse pilotar depois que passamos Filadélfia. Não tinha ido à posse ou ao baile, para o qual os republicanos me haviam arranjado um convite. Nessa época, eu me considerava um democrata. Agora, já não sabia o que me considerava.
Tinha passado o dia da posse presidencial no Cemitério Nacional de Arlington. Parecera-me uma boa maneira de comemorar a posse de Richard Nixon no cargo de presidente dos Estados Unidos.
Havia um Grimes enterrado no cemitério, um tio que morrera em 1921, envenenado por gás de cloro na floresta de Argonne. Quanto a mim, jamais seria sepultado em Arlington. Não era veterano de nenhuma guerra. Por ocasião da Guerra da Coréia, eu era demasiado jovem, e quando a do Vietnam estourou tinha o meu emprego na companhia de aviação e não me sentira tentado a alistar-me como voluntário. Caminhando por entre os túmulos, não senti pena de saber que nunca seria levado a descansar na companhia de heróis. Nunca fui amigo de brigar – mesmo quando garoto, só uma vez troquei socos na escola – e, embora fosse razoavelmente patriota, as guerras não tinham nenhuma atração para mim. Meu patriotismo não estava orientado na direção do derramamento de sangue.
Quando saí do hotel, na manhã seguinte, vi que havia uma fila de gente esperando táxi, de modo que me pus a andar, na esperança de pegar um táxi a meio da avenida. A temperatura estava agradável, em contraste com o frio cortante de Nova York, e a rua tinha um ar de prosperidade, com os transeuntes bem vestidos e disciplinados. Durante meia quadra, caminhei lado a lado com um senhor de aspecto digno e bem nutrido, metido num sobretudo de gola de vison, e com aparência de senador. Diverti-me imaginando qual a reação do homem se eu me aproximasse dele, olhando-o bem fixamente, como o Velho Marinheiro, que deteve um entre três, e lhe dissesse o que havia feito desde a madrugada de terça-feira.
Читать дальше