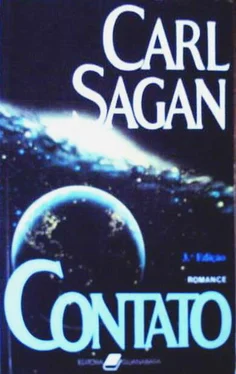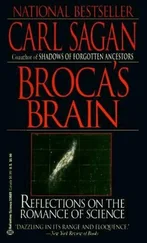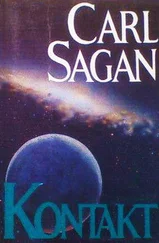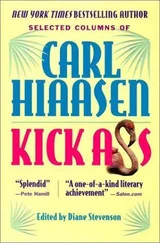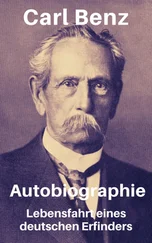Uma vez, durante uma discussão acalorada sobre os méritos relativos dos dois sistemas políticos, Ellie vangloriara-se de que fora livre de marchar defronte da Casa Branca a protestar contra o envolvimento americano na guerra do Vietnam. Vaygay respondera que, no mesmo período, ele fora igualmente livre de marchar defronte do Kremlin a protestar contra o envolvimento americano na guerra do Vietnam.
Ele nunca se mostrara inclinado, por exemplo, a fotografar as barcaças de lixo carregadas de resíduos malcheirosos e barulhentas gaivotas que passavam ronceiramente defronte da Estátua da Liberdade, como fizera outro cientista soviético quando, para o distrair, ela o acompanhara no ferry de Staten Island durante um intervalo de uma reunião na cidade de Nova Iorque. Tão-pouco, ao contrário de alguns dos seus colegas, fotografara sofregamente os tugúrios em ruínas e as barracas de chapa ondulada dos porto-Riquenhos pobres durante uma excursão de autocarro de um luxuoso hotel da praia ao Observatório de Arecibo. Ellie perguntava a si mesma a quem mostravam eles essas fotografias. Invocou mentalmente uma imensa biblioteca do KGB dedicada às infelicidades, injustiças e contradições da sociedade capitalista. Animá-los-ia, quando desconsolados com alguns dos malogros da sociedade soviética, dar uma vista de olhos aos instantâneos evanescentes dos seus imperfeitos primos americanos?
Havia na União Soviética muitos cientistas brilhantes que, por delitos desconhecidos, não eram autorizados a sair da Europa do Leste havia décadas. Konstantinov, por exemplo, nunca estivera no Ocidente até meados da década de sessenta. Quando, numa reunião internacional em Varsóvia — a uma mesa cheia de copos vazios de brande do Azerbaijão, depois de concluídas as respectivas missões —, tinham perguntado a Konstantinov por quê, ele respondera: «Porque os pulhas sabem: deixam-me sair, eu nunca mais volto.» No entanto, eles tinham-no deixado realmente sair durante o degelo das relações científicas entre os dois países nos fins da década de sessenta e nos princípios da de setenta e ele voltara todas as vezes. Mas agora já não o deixavam sair mais e ele estava reduzido a enviar aos seus colegas ocidentais cartões de Ano Novo em que se representava tristemente sentado de pernas cruzadas e cabeça inclinada numa esfera debaixo da qual estava a equação de Schwarzchild referente ao raio de um buraco negro. Encontrava-se num profundo poço potencial, costumava dizer a visitantes de Moscovo nas metáforas da física. Eles nunca mais voltariam a deixá-lo sair.
Em resposta a perguntas, Vaygay dizia que a posição oficial soviética era que a revolução húngara de 1956 fora organizada por criptofascistas e que a Primavera de Praga de 1968 tinha sido ocasionada por um grupo anti-socialista não representativo então na liderança. Mas, acrescentava, se o que lhe tinham dito não estava certo, se se tratara de levantamentos populares genuínos, então o seu país procedera mal ao suprimi-los. Sobre o Afeganistão, não se incomodava sequer a citar as justificações oficiais. Uma vez, no seu gabinete no Instituto, insistira em mostrar a Ellie o seu rádio pessoal de ondas curtas, no qual estavam colados rótulos, muito bem escritos em caracteres cirílicos, com freqüências de Londres, Paris e Washington. Era livre, dissera-lhe, de ouvir a propaganda de todas as nações.
Houvera uma altura em que muitos dos seus colegas se tinham rendido à retórica nacional acerca do perigo amarelo. «Imagine toda a fronteira entre a China e a União Soviética ocupada por soldados chineses, ombro a ombro, um exército invasor», pedira um deles, desafiando a capacidade de imaginação de Ellie. Estavam de pé à volta do samovar no gabinete do diretor, no Instituto. «Quanto tempo levaria, com a presente taxa de nascimentos chinesa, para todos eles atravessarem a fronteira?» E a resposta fora pronunciada, num misto incrível de negro presságio e deleite aritmético: «nunca.» William Randolph Hearst ter-se-ia sentido à vontade. Mas Lunacharsky, não. Destacar tantos soldados chineses para a fronteira reduziria automaticamente a taxa de nascimento, argumentava; os cálculos deles estavam, portanto, errados. Compusera a frase como se o mau uso de modelos matemáticos fosse o objeto da sua desaprovação, mas poucos tinham interpretado mal o seu significado. Na fase pior das tensões sino-soviéticas, ele nunca se permitira, que Ellie soubesse, deixar-se avassalar pela paranóia e pelo racismo endêmicos.
Ellie gostava de samovares e compreendia o afeto russo por eles. O seu Lunakhod, o bem-sucedido rover lunar não tripulado que parecia uma banheira com rodas de arame, dava-lhe a impressão de ter, algures na sua ancestralidade, um pouco de tecnologia do samovar. Uma vez, Vaygay levara-a a ver um modelo do Lunakhod num extenso parque de exposições fora de Moscovo, numa esplêndida manhã de Junho. Aí, ao lado de um edifício onde estavam expostas as mercadorias e os encantos da República Autônoma do Tadisquistão, havia um grande salão cheio até às traves do teto com modelos em escala natural de veículos espaciais civis soviéticos: Sputnik 1, a primeira astronave orbital; Sputnik 2, a primeira astronave a levar um animal, a cadela Laika, que morreu no espaço; Luna 2, a primeira astronave a chegar a outro corpo celeste; Luna 3, a primeira astronave a fotografar o lado oculto da Lua; Venera 7, a primeira astronave a pousar em segurança noutro planeta; e Vostok 1, a primeira astronave tripulada, que transportou o herói da União Soviética, o cosmonauta Iuri A. Gagarine, numa única órbita da Terra. Cá fora, crianças serviam-se das barbatanas do foguetão de lançamento da Vostok como escorregas, com os bonitos caracóis louros e os lenços de pescoço vermelhos do Komsomol a esvoaçar quando, no meio de grande hilariedade, escorregavam para terra. Zemlya, como se chamava em russo. A grande ilha soviética no mar Ártico chamava-se Novaya Zemlya, «Terra Nova». Fora aí, em 1961, que tinham detonado uma arma termonuclear de cinqüenta e oito megatoneladas, a maior explosão individual jamais conseguida pela espécie humana. Mas naquele dia de Primavera, com os vendedores a apregoar os sorvetes de que os Moscovitas tanto se orgulham, com famílias a passear e um velho desdentado a sorrir a Ellie e a Lunacharsky como se eles fossem namorados, a velha terra tinha parecido muito simpática.
Nas pouco freqüentes visitas de Ellie a Moscovo ou Leninegrado, Vaygay organizava muitas vezes os serões. Um grupo de seis ou oito ia ao Bolshoi ou ao ballet de Kirov. Não se sabia como Lunacharsky conseguia arranjar os bilhetes. Ela agradecia o serão aos seus anfitriões e eles — explicando que, pessoalmente, só na companhia de visitantes estrangeiros conseguiam assistir a tais espetáculos agradeciam-lhe a ela. Vaygay limitava-se a sorrir. Nunca levava a mulher, e Ellie não a conhecia. Ela era, dizia ele, uma médica dedicada aos seus doentes. Ellie perguntara-lhe qual era o seu maior desgosto, em virtude dos seus pais não terem emigrado para a América, como em tempos tinham pretendido. «Só tenho um desgosto», respondera ele na sua voz áspera. «A minha filha casou com um búlgaro.»
Uma vez organizou um jantar num restaurante caucasiano em Moscovo. Um mestre de brindes profissional, ou tamada, chamado Khaladze, fora contratado para a função. O homem era de fato um mestre naquela forma de arte, mas o russo de Ellie era mau e ela via-se obrigada a pedir a tradução da maioria dos brindes. Ele voltou-se para ela e, agourando o resto da noite, observou: «Chamamos alcoólico ao homem que bebe sem um brinde.» Um dos primeiros e relativamente medíocres brindes terminara com as palavras «À paz em todos os planetas», e Vaygay explicara-lhe que a palavra mir significava «mundo», «paz» e «uma comunidade autônoma de casas de camponeses que remontava a tempos antigos». Tinham discutido se o mundo havia sido mais pacífico quando as suas mais importantes unidades políticas não tinham sido maiores do que aldeias. «Cada aldeia é um planeta», dissera Lunacharsky, com o copo levantado. «E cada planeta é uma aldeia», volvera ela.
Читать дальше