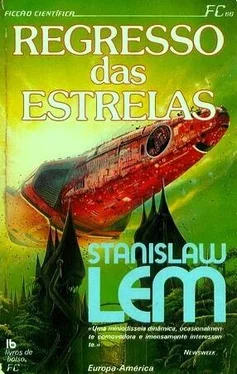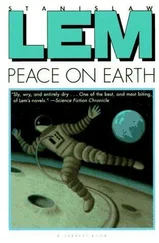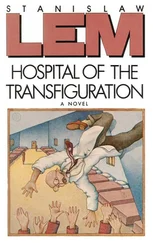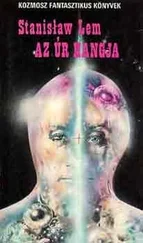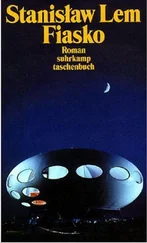O Palácio do Fantasma: éramos fechados num pequeno compartimento, completamente isolados do mundo. Não chegava ao interior nenhum som, nenhum raio de luz, nenhum bafo de ar nem nenhuma vibração do exterior. Semelhante a um pequeno foguetão, o compartimento estava equipado com um simulador dos seus comandos e dos seus fornecimentos de água, comida e oxigénio. E um homem tinha de lá permanecer, ocioso, sem nada, absolutamente nada, que fazer, durante um mês que parecia uma eternidade. Ninguém de lá saía o mesmo que entrara. Eu, um dos mais resistentes sujeitos do Dr. Janssen, comecei a ver na terceira semana coisas estranhas que outros tinham observado logo a partir do quarto ou quinto dia:
monstros sem rosto, multidões informes que borbotavam dos mostradores devidamente reluzentes para estabelecerem conversas insensatas comigo ou pairar por cima do meu corpo suado, do meu corpo que perdia os seus contornos, se modificava, tornava maior e finalmente — a mais assustadora de todas as coisas — começava a assumir uma independência, primeiro sob a forma de espasmos de músculos individuais, depois, após um formigueiro e uma dormência, sob a forma de contracções e, por fim, de movimentos, enquanto eu observava, estupefacto e sem compreender. Não fora o treino preliminar, não fora a instrução teórica, e teria jurado que os meus braços, a minha cabeça e o meu pescoço tinham sido possuídos por demónios. O interior estofado do compartimento tinha visto coisas que desafiavam a descrição. Janssen e os seus assistentes, com o equipamento apropriado, acompanhavam o que se passava lá dentro, mas nenhum de nós o sabia na altura. A sensação de isolamento tinha de ser genuína e completa. Por isso, o desaparecimento de alguns dos assistentes do doutor constituiu um mistério para nós. Foi só durante a viagem que Gimma me disse que eles tinham pura e simplesmente estoirado, marado. Um deles, um tal Gobbek, tentara aparentemente arrombar o compartimento, incapaz de suportar o tormento do homem que lá se encontrava dentro.
Mas isso era apenas o Palácio do Fantasma. Pois a seguir vinha o Espremedor com os seus empurradores e as suas centrifugadoras, a sua infernal máquina aceleradora capaz de produzir 400 gs — uma aceleração nunca utilizada, evidentemente, pois transformaria um homem numa poça. Mas os 100 gs chegavam para que as costas de um indivíduo ficassem viscosas de alto a baixo, com sangue espremido através da pele.
Passei o último teste, a Coroação, com distinção. Era a última peneira, o derradeiro estádio para nos excluir. Al Martin, um calmeirão, que, na altura, na Terra, parecia o que pareço hoje, um gigante, um matacão de músculos de ferro, e tão calmo quanto era possível desejar, voltou à Terra, da Coroação, num estado tal que o removeram imediatamente do centro.
A Coroação era uma coisa muito simples. Vestiam um fato a um homem, levavam-no e colocavam-no em órbita e a uma altitude de diversas centenas de milhares de quilómetros, quando a Terra brilha como a Lua multiplicada cinco vezes, atiravam-no simplesmente para fora do foguetão, para o espaço, e afastavam-se. A pairar, a mover os braços e as pernas, tinha de esperar pelo regresso dos outros, de esperar que o recolhessem. O fato espacial era seguro e confortável, tinha oxigénio, ar condicionado, aquecimento e até um sistema de alimentação do indivíduo, com uma pasta espremida de duas em duas horas de um bucal especial. Portanto, não podia acontecer nada, a não ser que houvesse algum mau funcionamento do pequeno rádio preso à parte de fora do fato e que assinalava automaticamente a localização daquele que o usava. Só faltava uma coisa ao fato: um receptor — o que significava que o homem não podia ouvir outra voz além da sua. Com o vazio e as estrelas à sua volta, suspenso, imponderável, tinha de esperar. É verdade que a espera era relativamente longa, mas não exageradamente. E era tudo.
No entanto, havia quem enlouquecesse com isso, quem começasse com convulsões epilépticas. Era o teste que ia mais contra o que existe num homem, era uma aniquilação total, uma condenação, uma morte com plena e continuada consciência. Era um sabor de eternidade que entrava no indivíduo e o deixava conhecer o seu horror. Adquiríamos o conhecimento, sempre considerado impossível e impalpável, do abismo cósmico que se estendia em todas as direcções; a queda interminável, as estrelas entre as pernas inúteis e pendentes, a futilidade, a inutilidade dos braços, da boca, dos gestos, do movimento e da inércia; no fato especial um grito de rebentar os tímpanos, os desgraçados a uivar… Basta.
Não há necessidade de nos determos no que, no fim de contas, era apenas um teste, uma introdução intencional, planeada com cuidado, com precauções de segurança: fisicamente, nenhum dos «coroados» foi lesado e o foguetão da base recuperou-os a todos. É verdade, porém, que também não nos diziam isso, para que a situação se mantivesse tão autêntica quanto possível.
A Coroação correu-me bem. Tinha o meu sistema, que era muito simples e completamente desonesto. Não estava previsto que o adoptássemos. Quando me atiraram para fora da escotilha, fechei os olhos e depois pensei em várias coisas. A única coisa de que precisávamos, e em grande quantidade, era força de vontade. Tínhamos de dizer a nós próprios que não devíamos abrir os desgraçados dos olhos acontecesse o que acontecesse. Creio que Janssen soube do meu estratagema. Mas não houve repercussões.
Tudo isto, porém, teve lugar na Terra ou na sua proximidade. Seguiu-se um espaço que não foi concebido nem criado no laboratório, um espaço que matava de facto, sem faz de conta, e que algumas vezes poupava — Olaf, Gimma, Thurber, eu próprio e os sete do Ulysses— e até nos permitia regressar. Após o que, nós que acima de tudo desejávamos paz, vendo o nosso sonho tornado realidade, e com perfeição, imediatamente o desdenhávamos. Creio que foi Platão quem disse: «Ó desgraçado, terás o que quiseste!»
Uma noite, muito tarde, estávamos deitados, exaustos. A cabeça de Eri, vira Ja para um lado, descansava na curva do meu braço. Levantei os olhos para a janela aberta e vi as estrelas nos espaços entre as nuvens. Não havia vento, a cortina pendia imóvel como um pálido fantasma, mas uma onda desolada avançou do vasto oceano e eu ouvi o longo ribombar que a anunciou e depois o furioso rugido da rebentação na praia. Seguiram-se vários momentos de silêncio e de novo a água invisível investiu contra a praia nocturna. Mas eu mal prestava atenção àquele recordar firme e repetido da minha presença na Terra, pois os meus olhos estavam fixos no Cruzeiro do Sul, do qual Beta fora a nossa estrela guia. Todos os dias me orientava por ela. automaticamente, com os pensamentos noutras coisas. Conduzira-nos sem falhas, impecavelmente, como um farol que nunca se apagava no espaço. Quase sentia nas mãos as pegas metálicas que movimentava para colocar o ponto luminoso, distinto na escuridão, no centro do campo de visão, com a orla de borracha macia do aparelho ocular encostado à testa e às faces. Beta. uma das estrelas mais distantes, quase não se modificou quando chegámos ao nosso destino. Brilhava com a mesma indiferença. embora o Cruzeiro do Sul tivesse desaparecido havia muito para nós. porque nos lançáramos profundamente nos seus braços. Depois, aquele ponto de luz branca, aquela estrela gigante, já não era o que parecera no princípio: um desafio. A sua imutabilidade revelava o seu verdadeiro significado: que era uma testemunha da nossa passagem, da indiferença do vazio do Universo — uma indiferença que ninguém é, nunca, capaz de aceitar.
Ma.-, naquele momento, ao tentar ouvir o som da respiração de Eri entre os bramidos do Pacífico, senti-me incrédulo. Disse para comigo, silenciosamente: «É verdade, é verdade, estive ali». Mas o meu espanto permaneceu. Eri estremeceu e eu comecei a afastar-me. para lhe dar mais espaço, mas de súbito senti o seu olhar posto em mim.
Читать дальше