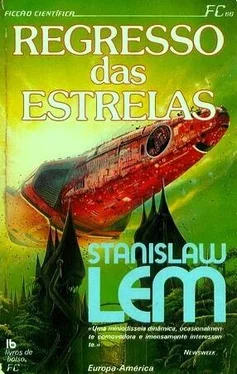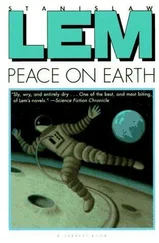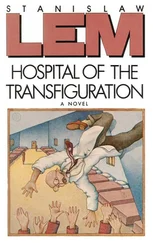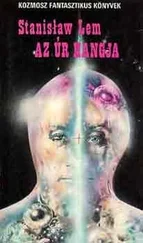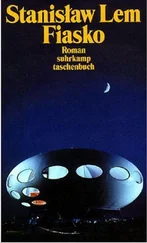— Faço-o assim tão bem?
— Não, certamente que não. Mas foi como se quisesse… — não completou a frase.
— Como se quisesse o quê?
— Você sabe. Eu senti-o.
— Estava zangado — confessei.
— Zangado! — exclamou, desdenhosamente. — Eu pensei que… Não sei o que pensei. Ninguém se atreveria, sabe?
Comecei a sorrir um pouco.
— E você gostou.
— Não compreende. Este é um mundo sem medo. Mas você… uma pessoa pode ter medo de você.
— Quer mais? — perguntei.
Os lábios dela entreabriram-se e olhou-me de novo como se eu fosse uma fera imaginária.
— Quero.
Aproximou-se de mim. Peguei-lhe na mão e encostei-a, aberta, à palma da minhaj Os seus dedos mal chegavam aos meus.
— Tem a mão tão dura — comentou.
— É das estrelas. Têm arestas aguçadas. E agora diga; Tem uns dentes tão grandes!
Sorriu.
— Os seus dentes são vulgares.
Depois levantou-me a mão e fê-lo com tanto cuidado que me lembrei do encontro com o leão. Mas, em vez de me sentir ofendido, sorri, pois era tremendamente estúpido.
Levantou-se, deitou uma bebida de uma pequena garrafa escura e bebeu-a.
— Sabe o que era? — perguntou-me de rosto franzido, como se o líquido a tivesse queimado.
Tinha enormes pestanas, sem dúvida postiças. As actrizes têm sempre pestanas postiças.
— Não.
— Não dirá a ninguém?
— Não.
— Perto.
— Bem… — murmurei, sem me comprometer.
Abriu os olhos e observou:
— Já o tinha visto antes. Ia a caminhar com um velho horrível e depois voltou sozinho.
— Como se o quê?
— Era o filho de um jovem colega meu — respondi, e o singular é que era verdade.
— Atrai as atenções, sabia?
— Que posso eu fazer?
— Não só por ser tão grande… Anda de modo diferente e… olha à sua volta como se…
— Como se o quê?
— Como se estivesse na defensiva.
— Contra quê?
Não me respondeu. A sua expressão modificou-se. A respirar mais pesadamente, observou a própria mão, Os dedos tremiam.
— Agora… — murmurou suavemente e sorriu, embora o sorriso me não fosse dirigido.
O seu sorriso tornou-se inspirado, as pupilas dilataram-se e absorveram a íris, recíinou-se devagar até assentar a cabeça na almofada cinzenta, com o cabelo solto e a olhar-me com uma espécie de jubilante letargia.
— Beije-me.
Beijei-a, mas foi horrível, porque queria e não queria. Parecia-me que deixara de ser ela própria, como se tivesse a faculdade de se transformar noutra qualquer, em qualquer momento. Enfiou os dedos no meu cabelo. A sua repiração, quando se afastou de mim, parecia um gemido. «Um de nós é falso, desprezível», pensei. «Mas quem, ela ou eu?» Beijei-a, o seu rosto era dolorosamente belo, terrivelmente estranho. Depois foi só prazer, um prazer insuportável, mas mesmo então permaneceu em mim o observador frio e silencioso. Não me abandonei. As costas da cadeira, obedientes, transformaram-se num apoio para as nossas cabeças. Era como a presença de uma terceira pessoa degradantemente atenta, e, como se conscientes disso, não trocámos uma só palavra durante o tempo todo. Depois dormitei, com os meus braços à roda do pescoço dela, mas continuei com a sensação de que estava ali alguém a observar, a observar…
Quando acordei ela estava a dormir. Era uma sala diferente… Não, era a mesma. Mas mudara, de certo modo. Uma parte da parede desviara-se para revelar a alvorada. Por cima de nós, como se tivesse sido esquecido, estava aceso um candeeiro estreito. Em frente, por cima das copas das árvores ainda quase pretas, o dia rompia. Desviei-me cautelosamente para a beira da cama. Ela murmurou qualquer coisa parecida com «Alan» e continuou a dormir.
Caminhei através de salas enormes e vazias, com janelas voltadas para oriente. Uma luminosidade vermelha entrava por elas e enchia o mobiliário transparente, que tremeluzia com o fogo do vinho tinto. Através da sucessão de salas vi a silhueta de alguém a andar — um robot cinzento-pérola sem rosto, com uma luz fraca a emanar do tronco e, no interior, uma chama rubi, com uma pequena vela diante de um ícone.
— Desejo ir-me embora — disse-lhe.
— Sim, senhor.
Prata, verde, escadas azul-celeste. Disse adeus a todas as caras de Aen no átrio alto como uma catedral. Já era dia. O robot abriu o portão. Disse-lhe que me chamasse um gleeder.
— Sim, senhor. Gostaria do da casa?
— Pode ser o da casa. Quero ir para o Alcaron Hotel.
— Muito bem, senhor. Entendido.
Alguém me falara já daquele modo. Quem? Não me lembrava.
Descemos ambos os degraus íngremes — para que, até ao fim, se não esquecesse de que aquilo era um palácio e não uma casa. Entrei no veículo à luz do Sol nascente. Quando começou a andar, olhei para trás. O robot continuava parado numa pose subserviente, lembrando um pouco um louva-a-deus com os seus braços finos e articulados.
As ruas estavam quase desertas. Nos jardins, como estranhos navios abandonados, as moradias repousavam — sim, repousavam, como se tivessem apenas pousado por um momento entre as sebes e as árvores, com as asas coloridas e angulosas dobradas. Havia mais gente no centro da cidade. Pináculos com os cumes incendiados de sol, casas em jardins de palmeiras, casas leviatãs que pareciam apoiadas em andas muito dispersas… A rua cortava através delas e voava para o horizonte azul. Não olhei para mais nada. No hotel tomei banho e telefonei para a agência de viagens. Reservei um ulder para o meio-dia. Divertiu-me um pouco poder dizer o nome com tanta facilidade, embora não fizesse ideia nenhuma do que era um ulder.
Dispunha de quatro horas. Telefonei ao infor do hotel e pedi informações acerca dos Bregg. Não tinha quaisquer descendentes, mas o irmão do meu pai deixara dois filhos, um rapaz e uma rapariga. Mesmo que não estivessem vivos, os seus filhos…
O infor enumerou onze Bregg. Pedi então a sua genealogia. Fiquei a saber que só um deles, um Atai Bregg, pertencia à minha família. Era o neto do meu tio e já nada jovem: tinha quase 60 anos. Descobrira, pois, o que queria saber. Levantei até o auscultador com a intenção de lhe telefonar, mas voltei a pô-lo no descanso. No fim de contas, que tinha a dizer-Ihe? Ou ele a mim? Como morrera o meu pai? Como morrera a minha mãe? Eu morrera antes para eles e agora não tinha direito nenhum de perguntar, como seu filho sobrevivente. Teria sido — pelo menos assim pensei, naquele momento — um acto de traição, como se os tivesse ludibriado fugindo cobardemente ao futuro, escondendo-me dentro do tempo, que fora menos mortal para mim do que para eles. Eles é que me tinham sepultado entre as estrelas, e não eu a eles, na Terra.
No entanto, voltei a levantar o auscultador. O telefone tocou durante muito tempo. Por fim, o robot da casa atendeu e informou-me de que Atai Bregg estava fora da Terra.
— Onde? — perguntei muito depressa.
— Em Luna. Estará ausente durante quatro dias. Que lhe devo dizer?
— Que faz ele? Qual é a sua profissão? — perguntei. — É que não tenho bem a certeza de ser a mesma pessoa que pretendo, talvez haja engano…
Não sei porquê, era mais fácil mentir a um robot.
— É psicopedista.
— Obrigado. Voltarei a telefonar dentro de dias.
Desliguei. Pelo menos não era astronauta. Óptimo.
Liguei outra vez para o infor do hotel e perguntei o que recomendava como diversão para as próximas duas ou três horas.
— Experimente o nosso realon.
— Que vai lá?
— A Fiancée. É o último real de Aen Aenis.
Desci, pois o realon ficava no rés-do-chão. O espectáculo já começara, mas o robot da entrada disse-me que não perdera praticamente nada, apenas alguns minutos. Conduziu-me, às escuras, puxou uma cadeira em forma de ovo e, depois de me sentar, desapareceu.
Читать дальше