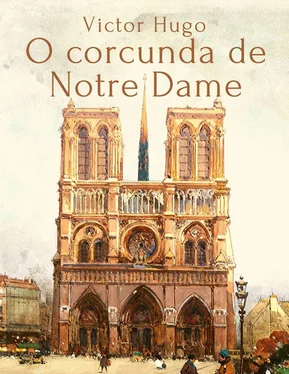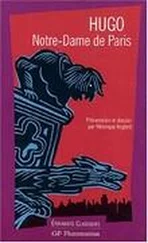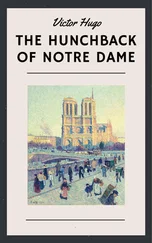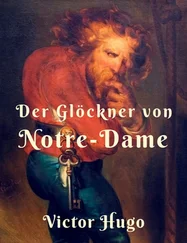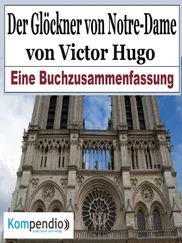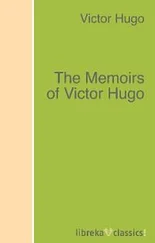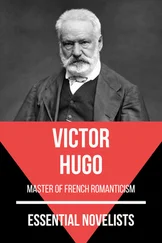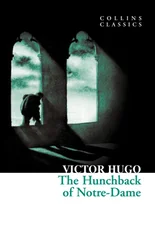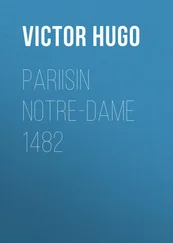— A cigana recaiu no seu laconismo.
— Não.
— Aquele homem a quem chamais o duque do Egito, é o chefe da vossa tribo?
— É.
— Foi por isso que ele nos casou — observou timidamente o poeta.
Esmeralda fez o seu gesto habitual.
— Eu nem sequer sei o teu nome.
— O meu nome? Se o quereis saber, é este: Pierre Gringoire.
— Sei de um mais bonito — disse ela.
— Má! — objetou o poeta. — Não importa, não me irritarás. Olha, talvez que me venhas a amar, conhecendo-me melhor; e depois contaste-me a tua história com tanta confiança, que te devo de algum modo a minha. Sabe então que me chamo Pierre Gringoire e que sou filho do rendeiro tabelionato de Gonesse. Meu pai foi enforcado pelos borgonheses e a minha mãe rasgaram os picardos o ventre, no cerco de Paris, há vinte anos. Fiquei pois órfão aos seis anos, tendo por herança as ruas de Paris. Não sei como transpus o intervalo dos seis aos dezasseis anos. Aqui uma fruteira dava-me ameixa, acolá um padeiro atirava-me uma côdea de pão; à noite fazia-me apanhar pelos soldados da ronda que me levavam para o calabouço onde encontrava um feixe de palha. Tudo isso não me impediu de crescer e de emagrecer como vês. De inverno, aquecia-me ao sol no pórtico do palácio de Sens e achava muito ridículo que reservassem para as canículas as fogueiras de S. João. Aos dezasseis anos quis tomar uma profissão. Experimentei sucessivamente tudo. E descobri, ao cabo de algum tempo, que para tudo me faltava qualquer coisa, e vendo que não servia para nada, fiz-me, por minha alta recreação, poeta. Sou eu o autor do mistério que hoje se representou. Como vê, não sou mau partido para um casamento. Sei muitas habilidades engraçadas que ensinarei à sua cabra; imitar, por exemplo, o bispo de Paris, esse maldito fariseu. Além disso o meu mistério deve dar-me muito dinheiro, se mo pagarem. Numa palavra, estou às suas ordens, pronto a viver consigo, solteira, como for do seu agrado; castamente ou alegremente; marido e mulher, se assim quiserdes; irmão e irmã, se preferis.
A cigana conservava os olhos fixos no chão.
— Fébo !— dizia ela a meia voz. Depois, voltando-se para o poeta: — Fébo, que quer isto dizer?
Gringoire, sem compreender que relação podia haver entre a sua alocução e esta pergunta, não se contrariou pelo ensejo de fazer brilhar a sua erudição. Empertigando-se, respondeu:
— É uma palavra latina que quer dizer sol.
— Sol! — repetiu ela.
— É um nome de um tal belo archeiro, que era deus — acrescentou Gringoire.
— Deus! — tomou a repetir a cigana, e no tom em que disse esta palavra havia alguma coisa de pensativo e apaixonado.
Neste momento um dos braceletes da Esmeralda desprendeu-se e caiu. Gringoire deu-se pressa em se abaixar para o apanhar; quando se levantou, a moça e a cabra tinham desaparecido. Ouviu-se depois o ruído de um ferrolho.
— Deixou-me ela ao menos uma cama? — disse o nosso filósofo. Percorreu o quarto. Não havia móvel algum próprio para dormir, senão uma grande arca de madeira e essa ainda tinha a tampa esculpida.
— Vamos lá! — disse ele acomodando-se sobre a arca o melhor que pôde. — Resignemo-nos. Estranha noite de núpcias! É pena; havia neste casamento de bilha quebrada alguma coisa de antediluviano que me agradava.
Livro 3
Capítulo 1 — Nossa Senhora de Paris
Incontestavelmente, a igreja de Nossa Senhora de Paris é ainda hoje um majestoso e sublime edifício. Mas, por bela que se tenha conservado ao envelhecer, é difícil não suspirar, não se indignar a gente à vista das degradações, das inúmeras mutilações que simultaneamente o tempo e os homens têm feito sofrer ao venerável monumento, sem respeito por Carlos Magno, que lhe assentou a primeira pedra e por Filipe Augusto que colocou a última.
Se tivéssemos vagar para examinar um por um com o leitor, os diversos vestígios de destruição que se notam na antiga igreja, a parte menor seria do tempo e a pior a dos homens, sobretudo dos homens da arte, visto que houve indivíduos que tomaram a qualidade de arquitetos nos dois séculos.
Três coisas importantes faltam hoje a essa fachada: primeiro o lanço de escadas de onze degraus que lhe dava ingresso; depois a série inferior de estátuas que ocupava os nichos dos três portais, e a série superior dos vinte e oito reis mais antigos de França que guarnecia a galeria do primeiro andar, desde Childeberto até Filipe Augusto, sopesando na mão «o pomo imperial».
O lanço de escadas, foi o tempo que o fez desaparecer elevando progressiva, irresistível e lentamente o nível do solo da Cidade; mas, fazendo devorar um a um, pela maré crescente do pavimento de Paris, os onze degraus que contribuíam para a altura majestosa do edifício, o tempo restituiu à igreja, mais talvez do que lhe tirou, porque foi o tempo que espalhou sobre a fachada a sombria cor dos séculos que faz da velhice dos monumentos a idade da sua beleza.
Mas quem deitou abaixo as duas filas de estátuas? Quem deixou os nichos vazios? Quem talhou, mesmo no meio do portal do centro, essa ogiva nova e bastarda? Quem se atreveu a entalhar aí a pesada e estúpida porta de madeira esculpida à Luís XV ao lado dos arabescos de Biscornette? Os homens, os arquitetos, os artistas dos nossos dias.
E, se entrarmos no interior do edifício, quem derrubou o colossal São Cristóvão proverbial entre as estátuas, como o era a grande sala do Palácio entre as salas e a flecha de Estrasburgo entre os campanários? E as inúmeras estátuas que povoavam os interstícios das colunas da nave e do coro, de joelhos, de pé, equestres, homens, mulheres, crianças, reis, bispos, gendarmes, de pedra, de mármore, de ouro, de prata, de cobre e até de cera, quem brutalmente as varreu? Não foi o tempo.
E quem substituiu o velho altar gótico esplendidamente obstruído de cofres e de relicários pelo pesado sarcófago de mármore com cabeças de anjos e nuvens que parece uma amostra desemparelhada de Val-de-Grâce ou dos Inválidos? Quem estupidamente assentou esse pesado anacronismo de pedra no pavimento carolino de Hercandus? Não foi Luís XIV dando cumprimento ao voto de Luís XIII?
E quem pôs uns frios vidros brancos no lugar das vidraças «altas e de cores» que fazia hesitar os olhos maravilhados dos nossos pais entre a rosa do portal grande e as ogivas da abside? E que diria um subchantre do século XVI, vendo a bela pintura a ocre com que os nossos vândalos arcebispos enxovalharam a sua catedral? havia de lembrar que era a cor com que o carrasco pintava os edifícios infamados; recordar-se-ia do palácio do Petit-Bourbon, todo caiado de amarelo também, pela traição do Condestável. Julgaria que o lugar santo se tivesse tornado em lugar infame e fugiria.
E se subirmos à catedral sem nos determos em mil barbaridades de todo o género, que fizeram desse pequeno encantador campanário, que se erguia sobre o ponto de interseção da janela e que, não menos delicado e não menos arrojado do que a flecha sua vizinha (destruída também), da Sainte-Chapelle, emergia pelos céus mais além do que as torres, esguio, agudo, sonoro, todo vasado? Amputou-o um arquiteto de bom gosto (1787), e julgou que era bastante mascarar a chaga com esse largo emplastro de chumbo que se assemelha à tampa de uma marmita. É assim que a maravilhosa arte da Idade Média tem sido tratada em quase todos os países, especialmente em França.
É um edifício da transição. O arquiteto saxónico acabava de levantar os primeiros pilares da nave, quando a ogiva, que chegava da cruzada, veio colocar-se como conquistadora sobre os largos capitéis romanos que só deviam sustentar plenos arcos. A ogiva, senhora desde então, construiu o resto da igreja. No entanto, inexperiente e tímida na sua estreia, dilata-se, alarga-se, contém-se e não se atreve a erguer-se ainda em flechas e lancetas, como fez mais tarde em tantas maravilhosas catedrais. Dir-se-ia que ela se ressente da vizinhança dos pesados pilares romanos.
Читать дальше