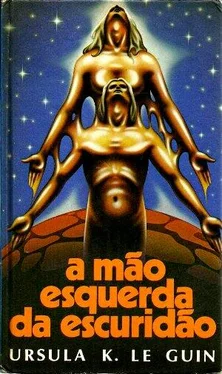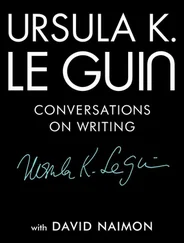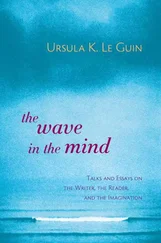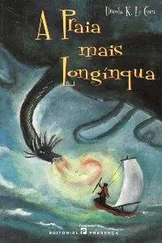O regime de vida das fazendas ou campos voluntários é uma invenção bastante recente, limitando-se apenas a este país, no planeta, e desconhecido nos demais. Mas é uma advertência sinistra da direção que uma sociedade suscetível de controle sexual pode tomar.
Em Pulefen, como já disse, vivíamos subnutridos em relação à energia despendida no trabalho e nossa roupa, especialmente o calçado, era totalmente inadequada para aquele clima gelado. A situação dos guardas, a maioria certamente prisioneiros, não era muito melhor. A finalidade do lugar e do seu sistema era punitiva, mas não destrutiva, e, creio, seria suportável não fosse a prática de drogar e os interrogatórios. Alguns dos prisioneiros eram submetidos a exame em grupos de doze; recitavam uma espécie de catecismo ou confissão de fé, tomavam sua injeção contra o kemmer e eram liberados para o trabalho. Outros, os prisioneiros políticos, eram submetidos de cinco em cinco dias a interrogatórios sob a ação de drogas.
Ignoro que drogas eles usavam. Ignoro também a finalidade destes interrogatórios. Não me lembro do que me perguntavam. Eu voltava a mim, no dormitório, algumas horas depois, já deitado no meu beliche, com mais seis ou sete companheiros na mesma situação: alguns voltando a si como eu, outros ainda pálidos e fracos sob a ação entorpecedora da droga. Quando conseguíamos nos pôr de pé, os guardas imediatamente nos levavam para trabalhar na oficina. Após o terceiro ou quarto interrogatório desse tipo, fiquei incapacitado para me erguer. Deixaram-me ficar e no dia seguinte juntei-me ao meu grupo, embora ainda me sentisse trêmulo. No interrogatório seguinte, fiquei inutilizado por dois dias, pela ação dos hormônios contra o kemmer ou do soro da verdade, que exerciam um efeito tóxico sobre meu organismo e meu sistema nervoso. Era um efeito cumulativo.
Lembro-me que pensei em falar com o inspetor no interrogatório seguinte para não me injetar nada, pois só estava dizendo a verdade. Diria: “Senhor, não vê como é inútil obter respostas a uma pergunta falsa?” Então o inspetor se transformaria em Faxe, com seu colar de ouro de áugure em torno do pescoço e eu teria com ele um longo diálogo, de maneira muito agradável, enquanto controlava o cair do ácido, em gotas, do tubo para uma tina de serragem.
Quando fui levado, porém, à saleta do interrogatório, o ajudante do inspetor abriu-me logo a gola e deu-me a picada antes mesmo que eu pudesse abrir a boca e falar. E tudo o que me lembro desta sessão — ou, quem sabe, de uma outra? — é da figura do inspetor, um jovem argota de aparência cansada, com as unhas sujas, dizendo monotonamente: “Tem que responder às minhas perguntas em orgota, não deve falar outra língua. Deve falar em orgota”.
Não havia enfermaria. O princípio que regia o campo era trabalhar ou morrer. Mas havia uma certa clemência, na prática, algo que os guardas permitiam existir entre a morte e o trabalho.
Como já disse antes, não eram cruéis, mas tampouco bondosos. Eram relaxados e não se importavam com as coisas, desde que ficassem longe de encrencas. Deixavam-nos, a mim e a outros prisioneiros, ficar no dormitório, nos nossos sacos de dormir como em observação, quando era óbvio que mal nos podíamos manter de pé.
Fiquei muito doente após o último interrogatório, como também um outro companheiro, um sujeito de meia-idade que tinha uma doença do fígado e estava morrendo. Como morria lentamente, deixavam-no ficar lá no seu beliche a maior parte do tempo. Foi a pessoa que ficou mais nítida na minha memória, nas lembranças de Pulefen. Ele era, fisicamente, um getheniano típico, de estrutura compacta, pernas e braços curtos, com uma espessa camada de gordura subcutânea dando-lhe uma aparência rotunda ao corpo, mesmo doente. Tinha mãos e pés pequenos, cadeiras largas e peito fundo, com os mamilos pouco mais desenvolvidos que a média dos homens da minha raça. A pele era castanho- escura, os cabelos pretos finos e com aparência de pêlo de animal. O rosto era largo, as feições bem delineadas, mas pequenas, e as maçãs do rosto salientes. É um tipo racial bastante parecido com alguns dos grupos terrenos que vivem em grandes altitudes ou nas zonas árticas. Seu nome era Asra; tinha sido carpinteiro.
Conversávamos. Asra não se preocupava em viver, assim imaginei, mas tinha medo da morte. Procurava distrair seu pensamento e afastar esse medo. Tínhamos pouco em comum, a não ser essa proximidade da morte, e isto não era assunto sobre que desejássemos conversar; assim, a maior parte das vezes não nos entendíamos bem. Isto também não lhe importava. Eu, mais jovem e incrédulo, gostaria muito que houvesse compreensão mútua, explicações. Mas não havia. Então falávamos. A noite, o alojamento brilhava com luzes fortes, barulhento e cheio de gente. Durante o dia as luzes eram apagadas e o grande alojamento era silencioso, vazio e penumbroso. Ficávamos em dois beliches juntos e falávamos em voz baixa. Asra gostava muito de contar longas histórias cheias de meandros sobre sua juventude numa fazenda comensal, no vale de Kunderer, aquela vasta e esplêndida planície que eu atravessara ao entrar no país, a caminho de Mishnory.
Seu dialeto era marcante e usava muitos termos que eu não conhecia, nomes de pessoas, de lugares, costumes, instrumentos, e assim eu apenas conseguia acompanhar a linha do seu pensamento. Quando ele se sentia melhor, no meio do dia, perguntava-lhe sobre um mito, uma fábula. A maior parte dos gethenianos é bem abastecida desses assuntos. Sua literatura é quase toda oral, embora existam textos escritos, e são, num sentido bem amplo, bastante literários. Asra conhecia as narrativas orgotas mais importantes, as pequenas parábolas de Meshe, a história de Parsidy, grande parte dos épicos e as sagas dos navegantes. Estes e outros trechos do folclore, ele os contava, lembrando sua infância, no seu dialeto meio ininteligível, e depois, cansando-se, calava-se e pedia-me que lhe contasse outros.
— O que eles contam em Karhide? — perguntava, esfregando suas pernas que o atormentavam com dores e aguilhoadas, voltando para mim seu rosto com um sorriso tímido e paciente. Uma vez respondi-lhe:
— Sei de uma história de povos que vivem noutros mundos…
— Que espécie de mundo seria?
— Um como este, parecido em quase tudo, só que ele não gira em torno deste sol. Ele gira em torno de uma estrela que vocês chamam de Selemy. É uma estrela amarelada, como o sol, e nesse mundo vive outra gente.
— Isso está nos ensinamentos de Sanovy, essa coisa sobre outros mundos. Havia um velho pastor, meio louco, do culto de Sanovy, que vinha ao nosso lar quando eu era criança e contava-nos histórias: para onde os mentirosos vão quando morrem, para onde os suicidas vão, e para onde vão os ladrões. É para lá que iremos, eu e você, hein? Para um desses lugares?!
— Não, este mundo de que eu falo não é o mundo dos espíritos. É um mundo real. A gente que vive lá é gente real, verdadeira, viva como a daqui. Mas há muito, muito tempo, eles aprenderam a voar.
Asra fez uma careta.
— Não batendo asas, como está pensando, aprenderam a voar em máquinas, veículos como os carros. — Mas isto era difícil de explicar na língua orgota, que não tem uma palavra precisa para o significado de voar; o vocábulo mais próximo seria deslizar. — Bem — continuei —, eles construíram máquinas que subiam no ar como o trenó desliza na neve, E após um certo tempo aprenderam como fazê-las movimentar-se cada vez mais rápidas e mais longe, até que se tornaram mais velozes que uma pedra lançada por atiradeira. Então ultrapassaram as nuvens e foram por aí afora, até chegar a um outro mundo que também girava em torno de um outro sol. Quando chegaram lá, também encontraram homens…
Читать дальше