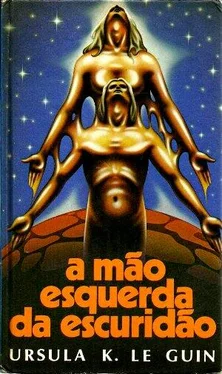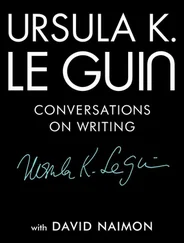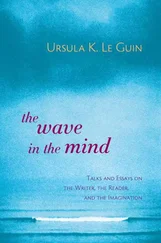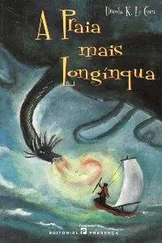XIII
Prisioneiro nos campos da morte
Alarmado pelo aparecimento repentino de Estraven e pela sua familiaridade com os meus negócios, especialmente pela pressa insistente dos seus avisos, aluguei um táxi e dirigi-me para a ilha de Obsle, a fim de saber dele por que Estraven sabia tanto e por que subitamente saíra do anonimato, insistindo para que eu agisse exatamente ao contrário do que Obsle me recomendara. O comensal não estava e o vigia não sabia onde encontrá-lo ou quando regressaria. Fiz o mesmo com Yegey, também sem sorte. Caía uma nevasca forte, a mais pesada daquele outono; meu motorista recusou-se a seguir adiante da casa de Shusgis porque não tinha correntes para os pneus. A noite também não consegui me comunicar por telefone com Obsle, Yegey ou Slose. Na hora do jantar, Shusgis me explicou: um festival do culto yomesh estava se desenrolando, a Solenidade de Todos os Santos e Defensores do Trono, e as altas patentes deveriam ser vistas e comparecer aos templos.
Ele encontrou explicação também para o comportamento de Estraven de modo bastante perspicaz, como sendo o de um homem que já fora poderoso e que agora, decaído, se agarrava a qualquer coisa, pessoa ou acontecimento para influenciá-los, cada vez mais desesperada e menos racionalmente, à proporção que o tempo passava e ele sentia que estava se afundando num anonimato impotente. Concordei em que isto explicava o comportamento ansioso, quase desesperado, de Estraven. Mas esta ansiedade havia me contagiado. Senti-me muito pouco à vontade durante aquela longa refeição. Shusgis falava ininterruptamente, comigo e com seus subordinados e aduladores, à mesa. Nunca eu o tinha visto assim, tão prolixo e incansavelmente jovial. Quando terminou o jantar, já era bastante tarde para sair e, de qualquer forma, a solenidade iria reter os comensais até tarde, mesmo depois da meia-noite, segundo Shusgis.
Decidi não cear e fui para a cama cedo. Entre meia-noite e o alvorecer, fui acordado por desconhecidos e informado de que estava preso. A seguir fui conduzido por guardas armados até a Prisão de Kundershaden.
Kundershaden é muito antiga, uma das poucas construções velhas, remanescentes em Mishnory. Eu a observara freqüentemente nas minhas caminhadas pela cidade; era um lugar lúgubre, sujo e cheio de torres, muito diferente dos pálidos edifícios vistosos da comensalidade.Éo que parece ser: uma cadeia. Não é um disfarce, com nome de outra coisa, uma fachada, um pseudônimo. É real, uma coisa real, exatamente aquilo que as palavras representam.
Os guardas, um bloco sólido e maciço, empurraram-me aos trancos pelos corredores e deixaram-me só numa pequena saleta, muito suja e fortemente iluminada. Dentro de poucos instantes, um outro lote de guardas entrou escoltando um homem de cara magra, com ar de autoridade. Ele dispensou todos, exceto dois deles. Perguntei-lhe se poderia enviar uma mensagem ao Comensal Obsle.
— O Comensal Obsle sabe de sua detenção.
— Sabe?! — espantei-me, imbecilmente.
— Meus superiores agem de acordo com as ordens dos Trinta e Três. Vamos ao que interessa.
Os guardas me seguraram. Resisti-lhes dizendo, bastante aborrecido:
— Não precisam me intimidar. Responderei ao interrogatório!
O homem de rosto fino não prestou atenção; chamou de volta outro guarda e os três me amarraram numa mesa reclinável, despiram-me e injetaram-me um líquido, suponho que o soro da verdade.
Não sei o tempo que durou o interrogatório ou o que eles me perguntaram, pois estava fortemente dopado todo o tempo e não me lembro de nada. Quando voltei a mim, não tinha idéia de quanto tempo fora detido em Kundershaden; quatro ou cinco dias, julgando pelas minhas condições físicas, mas não estava bem certo. Ainda por algum tempo depois disso eu não sabia em que dia do mês estava, em que mês, na realidade mal reconhecia o ambiente em torno de mim.
Estava num caminhão de caravana, muito semelhante àquele que me levara do Kargav a Rer, mas na parte fechada e não na cabine do motorista. Havia cerca de vinte a trinta pessoas comigo, difícil dizer quantos, já que não havia janelas e a luz se filtrava apenas por uma fresta na porta traseira, vedada por quatro camadas espessas de tela de aço. Evidentemente já estávamos em viagem quando recobrei a consciência; cada um tinha seu espaço definido, e no ar pairava um cheiro de vômito, suor e excreções insuportável. Ninguém conhecia ninguém. Ninguém sabia para onde ia. Quase não havia conversa. Era a segunda vez que me trancafiavam no escuro, com pessoas que não se queixavam, inteiramente desesperançadas. Eu reconhecia, agora, o alerta que me fora dado na minha primeira noite neste país, como um sinal que eu obstinadamente ignorara. Eu ignorara o subterrâneo negro e havia ido procurar a essência desse país, acima do solo, à luz do dia. Era por isso que nada me parecia real ali. O real era aquilo, agora. Percebi que o caminhão estava indo em direção leste e não pude me libertar desta sensação, embora ficasse claro que ele ia para oeste, cada vez mais para o interior de Orgoreyn. Nosso senso de orientação e de campo magnético fica prejudicado nos outros planetas, quando a inteligência não sabe compensar essa deficiência; o resultado é um profundo atordoamento, um sentimento de que tudo, literalmente, tornou-se vago, impreciso.
Um dos prisioneiros morreu naquela noite. Ele tinha sido esbordoado e pisoteado no abdome e morreu de forte hemorragia anal e estomacal. Ninguém pôde fazer nada por ele; nem havia nada a fazer.
Um vaso plástico com água havia sido empurrado em nossa direção algumas horas antes, mas há muito ele estava vazio. O homem estava ao meu lado; tomei sua cabeça e a apoiei nos meus joelhos, para que pudesse respirar melhor. Assim morreu. Estávamos todos nus, mas seu sangue me recobria todo, formando como um vestuário a me revestir pernas, coxas e mãos, em camadas escuras, duras, secas e sem calor.
À noite, o frio era cortante, e tivemos que nos amontoar para conseguir um certo aquecimento. O cadáver foi afastado, sendo excluído do agrupamento humano. Ficamos acocorados juntos, balançando e sacudindo os corpos como um só bloco, em movimento durante toda a noite. A escuridão era completa dentro daquele caixão de aço. Estávamos numa estrada rural e nenhum outro veículo nos acompanhava; mesmo com o rosto colado na grade, nada se via lá fora, a não ser a escuridão e uma vaga bruma de neve caindo.
Neve caindo, neve recém-caída, neve congelada, neve misturada a recentes pancadas de chuva, neve recongelada… a língua orgota e a karhideana têm uma palavra própria para designar cada uma destas expressões. Em karhideano — que eu domino melhor que o orgota — cheguei a contar sessenta e duas palavras para as várias espécies, estados e qualidades de neve. Há também outro conjunto de palavras para nevadas; outro para gelo, um conjunto de vinte ou mais que definem o grau de temperatura, como é a força do vento, e que espécie de precipitação está ocorrendo.
Sentado no chão, comecei a fazer listas mentais destas palavras, naquela noite. Metodicamente, sempre que me lembrava de uma palavra nova, recomeçava a lista em ordem alfabética.
Muito depois da aurora o caminhão parou. Gritaram através da janelinha que havia um morto lá dentro: “Venham retirá-lo”… Cada um de nós gritava, berrava, batia nas paredes e na porta, fazendo um tal pandemônio ali dentro que mal podíamos suportar. Mas ninguém apareceu. O caminhão ficou lá parado, por horas. Afinal, som de vozes lá fora. O caminhão pôs-se em movimento, derrapando no gelo, e partiu de novo. Podia-se perceber através da janela que já era manhã ensolarada e dia alto e que estávamos atravessando colinas com florestas.
Читать дальше