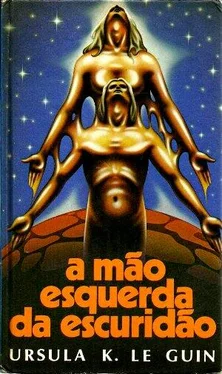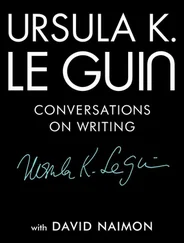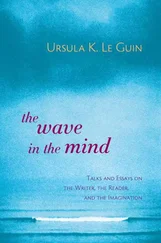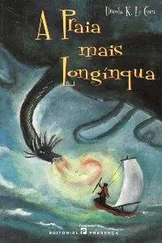Assim continuamos por mais três dias e noites; era o quarto, desde o meu despertar. O caminhão não parou em nenhum ponto de inspeção e creio que nunca passou dentro de qualquer cidade ou vilarejo. Seu percurso era errático e furtivo. Havia paradas para mudança de motorista e recarga de bateria; havia outras mais prolongadas por razões que não discerníamos no interior. Dois dias ele permaneceu parado, do meio-dia ao anoitecer, como se estivesse abandonado, e então recomeçava sua marcha de novo, à noite. Uma vez por dia, cerca de meio-dia, um grande jarro de água era passado através de um alçapão na porta.
Contando o cadáver, havia vinte e seis de nós ali. Os gethenianos agrupam os valores não em dúzia e sim em números de treze, vinte e seis, cinqüenta e dois, talvez porque o ciclo lunar seja de vinte e seis dias, invariavelmente, que é o que serve de referência para fixar a duração do mês e o ciclo sexual.
O cadáver foi empurrado contra as portas de aço, na parte traseira, de modo que ficasse no local mais frio. Nós nos sentávamos ou acocorávamos, cada um no seu lugar, seu território, seu domínio, até de noite; quando o frio se tornava intolerável, nos juntávamos pouco a pouco e formávamos enfim um bloco só, ocupando um só espaço, aquecido no centro, mas frio na periferia. Havia bondade entre nós. Eu e outros nos revezávamos no centro; um velho e outro com uma tosse muito doentia foram reconhecidos naturalmente como os menos resistentes do grupo. Não lutávamos para conquistar esse lugar mais quente, nós o dividíamos naturalmente todas as noites. É uma coisa espantosa essa bondade que o ser humano não perde. Espantosa, sobretudo quando, no frio e na escuridão, nus, é tudo o que nos resta. Nós, que somos ricos, tão cheios de força, acabamos com essa pequena dádiva e não temos nada além disso para trocar.
Apesar desse ajuntamento físico à noite, ficávamos distantes em mente e espírito uns dos outros. Alguns estavam dopados pelas drogas, outros provavelmente tinham sido inutilizados mental e socialmente, todos haviam sido maltratados e injuriados; entretanto, era enfim bem estranho que essas vinte e cinco pessoas ali reunidas não falassem umas com as outras, nem mesmo para se injuriar. Havia bondade e tolerância, mas em silêncio, sempre em silêncio. Encurralados naquela fedorenta escuridão, partilhávamos da nossa mortalidade, éramos sacudidos e caíamos uns sobre os outros, atritados lado a lado pelo sacolejar do veículo, respirávamos o mesmo ar confinado e dividíamos o calor de nossos corpos como o fogo pode ser partilhado. Mas permanecíamos estranhos. Nunca soube o nome de nenhum deles.
Um dia, o terceiro, creio, quando o caminhão estava parado há horas, e eu já imaginava que eles simplesmente tinham nos abandonado em qualquer lugar deserto para apodrecer, um deles começou a falar comigo. Discorria a respeito de uma longa história sobre uma usina ao sul de Orgoreyn, onde trabalhava e tinha se metido em encrencas com um superintendente. Falava continuamente numa voz monótona e suave, colocando sempre a sua mão na minha, como para se certificar da minha atenção. O sol estava declinando, um raio penetrava pela fresta, e eu, subitamente, pude ver, mesmo recuado, uma jovem suja, bonita, assustada, estúpida, olhando para mim enquanto falava, sorrindo timidamente em busca de consolo. O jovem orgota estava em kemmer e havia sido atraído por mim. Foi a primeira vez que algum deles pediu-me algo e eu não podia atender-lhe. Levantei-me e fui até a janelinha em busca de ar e fiquei olhando para fora, só retornando ao meu lugar depois de muito tempo.
Naquela noite o caminhão subiu e desceu ladeiras. De vez em quando parava inexplicavelmente. A cada parada um silêncio glacial, como que eterno, nos rodeava por fora do caminhão, o silêncio das vastidões, das alturas. O jovem em kemmer ainda permanecia ao meu lado e ainda procurava me tocar. Levantei-me de novo e fiquei contra a grade da janela, a respirar ar puro, que cortava minha garganta e os pulmões como uma lâmina. Minhas mãos, comprimidas contra a porta, tornaram-se dormentes e em breve senti que poderiam congelar. Minha respiração tinha feito como que uma pequena ponte de gelo entre meus lábios e a tela. Tive que parti-la com os dedos antes de voltar ao meu lugar. Quando me acocorei com os outros, comecei a tremer de frio, um tremor de uma espécie que até então não sentira ainda, com espasmos como convulsões de febre. O caminhão afinal recomeçou a viagem. O barulho e o movimento davam uma ilusão de calor, desfazendo aquele profundo silêncio glacial, mas eu ainda me sentia gelado. Pareceu-me que estávamos em altitude bastante elevada, durante quase toda a noite, mas era difícil calcular, pois não se podia confiar nem na própria respiração, batidas cardíacas ou nível energético, dadas as circunstâncias em que estávamos sobrevivendo. Soube depois que havíamos atravessado o passo de Sembensyens e ultrapassado assim nove mil pés de altitude.
A fome não me incomodava demais. A última refeição sólida que fizera fora o jantar na casa de Shusgis. Eles devem ter me alimentado em Kundershaden, mas não me recordo disso. Comer não fazia parte dessa existência, dentro de um caixão de aço, nem eu chegava a pensar mais nisto. Mas a sede, por outro lado, é uma das condições básicas de vida. Uma vez por dia, numa parada qualquer, o alçapão, na parte traseira, era destrancado e por ele empurravam-nos o jarro plástico que era renovado com água e a nós devolvido, penetrando no ambiente com uma lufada de ar gelado. Não podíamos medir a quantidade de água que cabia a cada um. O jarro passava de mão em mão, dávamos três ou quatro goladas antes que nos fosse arrebatado por nosso vizinho. Ninguém era guarda de ninguém. Ninguém também poupava água para dar ao homem que tossia, agora com febre alta. Sugeri que isso fosse feito, todos ao redor concordaram com um aceno, mas na hora o acordo não foi cumprido. A água era partilhada de modo mais ou menos equitativo — ninguém tentava ultrapassar a sua quota, e acabava logo. Uma vez os três últimos ficaram sem uma gota quando a jarra chegou a eles; na vez seguinte, dois deles insistiram em ser os primeiros e os outros concordaram. O terceiro estava enrodilhado, quieto no seu canto, e ninguém se preocupou em fazê-lo beber. Por que eu também não o fizera? Não sei. Era o quarto dia no caminhão e se o caso tivesse acontecido comigo, acho que não me importaria muito nem me esforçaria para obter minha ração. Tinha consciência da sua sede e do seu sofrimento, do homem doente e dos outros, muito mais do que do meu próprio. Estava incapaz de fazer qualquer coisa para aliviar o sofrimento alheio e aceitava esse fato, indiferentemente, como os outros. Sei que as pessoas podem se comportar de maneira muito diferente nas mesmas circunstâncias. Mas esse povo orgota era treinado, desde o nascimento, a uma disciplina de cooperação, obediência e submissão ao espírito de comunidade que provinha de escalões superiores. As qualidades como independência e decisão tinham se enfraquecido neles. Não tinham grande capacidade de encolerizar-se. Ali formavam um todo e eu era parte dele; os que estavam ali pensavam assim e isto era um refúgio e conforto à noite, o bloco compacto de corpos amontoados, cada um absorvendo a vida do outro. Mas não havia liderança ou chefia; era um bloco passivo.
Pessoas cuja vontade fosse mais aguçada e trabalhada, poderiam ter-se saído muito melhor: falado mais, partilhado da água com mais justiça, dado maior apoio ao doente e levantado o moral do grupo. Não sei bem. Sei apenas que era assim o comportamento lá dentro.
Na quinta manhã, se minha contagem estava correta, o caminhão parou. Ouvimos conversas lá fora e chamados, em voz alta, para lá e para cá. As portas traseiras foram destrancadas por fora e escancaradas. Um por um, deslizamos para fora, alguns de quatro, outros pulando ou rastejando no chão. Éramos vinte e quatro. Havia dois mortos, o cadáver antigo e um novo, o do homem que não bebera água nos últimos dois dias. Eles foram arrastados lá de dentro.
Читать дальше