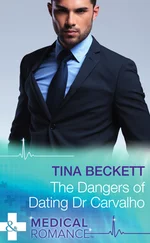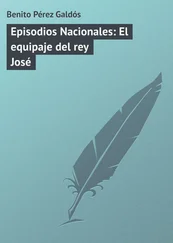© Editora Gato-Bravo, 2019
Não é permitida a reprodução total ou parcial deste livro nem o seu registo em sistema informático, transmissão mediante qualquer forma, meio ou suporte, sem autorização prévia e por escrito dos proprietários do registo do copyright.
editor Marcel Lopes
coordenação editorial Paula Cajaty
Assistente editorial Natália Domene Alcaide
revisão Inês Carreira
imagem da capa António Caeiro
Título Desertos
Autor Rui Carvalho
Fotografias António Caeiro
isbn 978-989-8938-45-9
e-isbn 978-989-8938-46-6
1a edição: setembro, 2019
Depósito legal 459933/19
gato·bravo
rua de Xabregas 12, lote A, 276-289
1900-440 Lisboa, Portugal
tel. [+351] 308 803 682
editoragatobravo@gmail.com
editoragatobravo.pt
Os autores agradecem:
a Paulo José Miranda a elaboração da Folha de Sala
e a Céu Baptista a revisão informal do texto.
Folha de sala
Há nas fotos de António Caeiro um desespero e um abandono que tangem a nossa sensibilidade, que fazem de nós um instrumento, uma harpa de cordas tensas a ser tocada pelo tempo. Pela intempérie do tempo e de como ele deixa as coisas e os lugares depois da sua passagem. O tempo sobrevoa os limites do que somos, sobrevoa a nossa pele, a nossa sensibilidade através das imagens, povoadas por objetos que foram, por lugares que deixaram de ser. E há também pequenas árvores e arbustos que surgem como pessoas que estão onde não deviam estar, coisas fora do lugar. A grande beleza, aterradora, das fotos de Caeiro emerge de imediato, intuitivamente, e estabelece uma relação entre árvores, arbustos, sofás, portas, antigas fábricas e cada um de nós mesmos. Basta umas ruínas à nossa volta para que o crescimento das nossas folhas seja visto como um fracasso, que é toda a existência humana, como na foto à página 39, que o texto de Rui José Carvalho sublinha e alarga, estendendo esse fracasso à própria condição da procura, à própria condição do sublime. Se as fotos de Caeiro nos transformam em melodias tristes, cavas, regidas pela aura da escala menor, onde os tons coxeiam com regularidade, os textos de Rui José Carvalho alargam essa melodia à compreensão de que o que nos falta não somos nós, nem sequer o que fomos, o que nos falta é o que já sentimos. “A adolescência, esse amor para sempre!” (p. 63).
Um dia quando fomos não estávamos lá. E existiu mesmo esse dia? Existimos mesmo ou é tão somente a memória inventando um rosto, uma linha, um horizonte? Não nos resta sequer uma fotografia que o prove ou um poema que justifique essa ausência de nós mesmos e dos outros. Porque o livro trata do tempo e de vidas humanas à beira dos livros e dos quadros e da música e da luz cravada no papel, que são estes textos e estas fotografias. “Haveríamos de ser estranhos e na estranheza virar todas as páginas em sobressaltos.” (p. 35) Um livro onde a existência é um desencontro. E Deus um deserto.
— Paulo José Miranda
Pavimentaram-nos o chão para que não nos semeássemos.
No entanto, eis-nos: ervas daninhas crescendo. A arte floresce onde menos se espera. Onde quer que haja sede de espírito e alguma chuva caindo. Somos refletidos na imagem da terra, entre a terra e o céu, é este o lugar que nos espelha.
Por entre os pingos da água caindo, aqui aguardamos o dilúvio. Aguardamos que o céu nos caia, para que do céu caído algum breve amor nos reencontre.
Aqui ouvimos a chuva que ainda há pouco deixou de cair, o breve passar do tempo. Na terra prenhe de nós, aqui habitamos os interstícios do solo.
Pavimentaram-nos o chão para que não nos semeássemos, para que no mundo mais não houvesse que o haver que ser.
Contudo, esperamos AINDA milagres. Aguardamos que o céu nos caia, que no cair do céu haja o reinício do mundo. Aguardamos o recomeço, todos os cataclismos. O reencontro em Gaia e Urano antes ainda do Tempo urdindo a vingança.
Libertar-nos-emos das grades que nos cercam. As grades são imagens impostas na paisagem e ervas daninhas não conhecem prisões.
Eis o lugar onde nos espelhamos. Espraiamo-nos luz acima para que a luz nos incida. Temos sede de luz, da luminosa saudade impregnada em futuro. Iluminados pela estranheza do que somos, à vileza que nos cerca contrapomos os intrépidos lugares onde nos fazemos crescer.
Aqui, no preciso lugar das apostas perdidas seremos a vitória dos reencontros.
A subida é uma escalada incerta e o fôlego é impreciso.
Gasto-me, entre a proeza do equilíbrio e a ciência da respiração. O esgotamento das possibilidades leva tempo, muito tempo. A respiração é curta para tanto caminhar. Em cada degrau me restabeleço.
Paro, por um segundo que seja. Em cada paragem a visão vai-se tornando cada vez mais abrangente. A cada passo dado sou mais seguro no vento, quase perto de voar.
A segurança não é ter corrimões onde nos podemos agarrar, é sermos cada vez mais perto do desequilíbrio.
Adquiro a ciência da queda, o amortecer-me dos ossos no chão. O truque do domínio.
Ser autárquico. Pouco mais que um punhado de livros abertos entre as mãos.
Ter contudo saudades; da música, das mulheres nuas dançando entre os meus dedos. Ter saudades da fortuna e ainda assim persistir. Olhar para baixo, olhar para baixo e ser tão alto. Sonegar o tempo à estupidez. Optar pela dificuldade quando aos outros tudo parece ser tão simples. Esgotar tudo o que se é naquilo que valor tem. Recusar o chamamento da publicidade. Recusar a publicidade dos dias. Não correr. Discorrer. Ganhar fôlego no cansaço.
Trazer-me poemas nas mãos. Nas mãos trazer-me ciladas onde me fazer cair. Devoluto, continuamente tropeçar-me na inexistência de claridade. Ser incerto, de ternura incerta, peito aberto e também ele incerto, ofuscado na penumbra. Inciso, impreciso, imprestável para a calibragem do mundo.
Não correr. Discorrer.
Tão só subir, tão só subir à vertigem de ser tão alto.

Aqui havia cortinas e as cortinas abriam-nos a noite. Aqui havia lugares e nos lugares nos sentávamos ainda prenhes de clareza. Todos os lugares eram alagados pelos rios jorrando em catadupa, pelo iluminado riso das jovens mulheres ainda em flor. A noite surgia florindo os resquícios do que éramos até que fossemos a certeza de sermos um sonho vivido.
Aqui havia cortinas e as cortinas abriam-nos a noite.
Fingindo-nos mortos para a rotina, abríamo-nos com as cortinas. A rotina era a secura dos solos. Nós ainda vicejávamos. Entoávamos canções numa linguagem distante e nas canções entoadas distávamos do amor por milímetros.
Tudo falhou.
Tudo falhou como tudo sempre falha. Tudo o que quisemos foi desejado em demasia e a demasia entornou-nos borda fora.
Extravasados de nós somos agora esta angústia, todas as casas desertas minando-nos até aos ossos.
Desabitados no desamor, somos a desertificação das casas.
O escuro não chega. Agora o escuro não nos chega. Tornámo-nos brancos. Brancos e ressequidos como a branca cal das paredes que nos cercam. Nas paredes nos edificámos até à brancura da pele. Imiscuímo-nos na feitura das casas para que nos pregássemos na nossa fundação. Contudo, fundimo-nos com as paisagens. Somos aqueles que com as paisagens se fundem. Como todas as coisas tocadas pelos homens, as paisagens definham. Assim nos tornámos secos. Só teias de aranha nos habitam.
É isto.
É nisto que nos tornámos: corações empedernidos junto às teias.
Dar passos em redor da deriva; olhar para cima sem que se reze. Saber que no deserto não existem cruzes, tão só a persistência do vento ecoando com as intempéries. Aguardar as tempestades de areia. Coabitar com as tempestades. Sentir a areia a pesar, deixar que o ar assim nos rasgue os pulmões.
Читать дальше