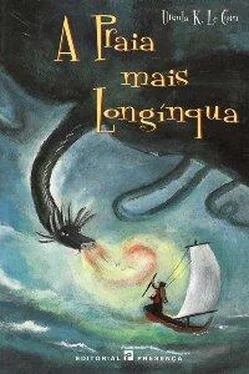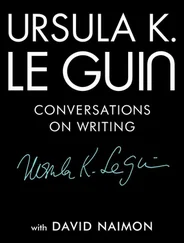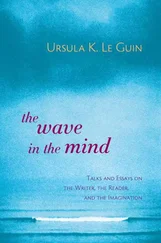Voltando a erguer-se sobre a areia, arqueando o dorso e batendo as asas articuladas, Orm Embar vomitou golfadas de fogo e gritou alto. Tentou voar, mas não podia voar. Maligno e frio, o metal permanecia no seu coração. Agachou-se e o seu sangue escorreu-lhe da boca, negro e venenoso, e o fogo morreu nas suas narinas até estas se tornarem quais poços de cinza. Deixou cair a cabeçorra enorme na areia.
Assim morreu Orm Embar onde morrera o seu antepassado Orm, sobre os ossos de Orm, enterrados na areia.
Mas onde Orm ferira e derrubara o inimigo, algo hediondo e encarquilhado jazia, como o corpo de uma grande aranha que houvesse secado na sua teia. Fora queimado pelo sopro do dragão e esmagado pelos seus pés armados de garras. E contudo, perante os olhos de Arren, moveu-se. Rastejou para uma pequena distância do dragão.
O rosto da coisa ergueu-se para eles. Já nada restava nele de agradável à vista, só uma ruína, a velhice que tinha vivido para além da velhice. A boca estava mirrada. As órbitas dos seus olhos estavam vazias e desde há muito que assim era. E assim viram Gued e Arren o rosto vivo do seu inimigo.
Desviou-se deles. Os braços queimados, enegrecidos, estenderam-se e dentro deles se formou uma escuridão, aquela mesma escuridão informe que crescera até obscurecer o Sol. Entre os braços do Anulador era como uma entrada ou portal, embora indefinido, sem contornos. E para lá dela não havia areia pálida, nem oceano, mas apenas um longo declive de escuridão mergulhando no negrume.
Para aí se dirigiu a figura esmagada, rastejante, e ao entrar na escuridão pareceu erguer-se e mover-se rapidamente, e logo desapareceu.
— Vem, Lebánnen — incitou Gued, pousando a mão direita no braço do rapaz. E avançaram na direção da terra árida.
O bordão de teixo luzia na mão do mago, no meio da escuridão baça que se adensava, com um brilho de prata. Um outro ligeiro movimento cintilante chamou a atenção de Arren. Um tremeluzir percorria a lâmina da espada que trazia nua no punho. Quando a arremetida do dragão quebrara o esconjuro de prender, ele desembainhara a espada, ali, sobre a praia de Selidor. E aqui, embora ele próprio não fosse mais que uma sombra, era uma sombra viva e empunhava a sombra da sua espada.
Nada mais havia que fosse brilhante em lado algum. Era como o crepúsculo, já tarde, no fim de Novembro, um ar parado, frio e austero, em que era possível ver, mas não claramente e não muito longe. Arren conhecia aquele lugar, as charnecas e baldios dos seus sonhos desesperados. Mas parecia-lhe que estava mais longe, imensamente mais longe, do que alguma vez estivera em sonhos. Não conseguia descortinar nada distintamente, a não ser que ele e o companheiro estavam na encosta de um monte e que, à sua frente, havia um muro baixo de pedras, não mais alto que o joelho de um homem.
Gued mantinha ainda a mão direita sobre o braço de Arren. Avançou e Arren avançou com ele, e passaram sobre o muro de pedras.
Informe, o longo declive continuava a descer em frente deles, mergulhando na escuridão.
Mas por cima, onde Arren julgara ir encontrar um pesado acumular de nuvens, o céu era negro e havia estrelas. Olhou-as e foi como se o coração se lhe encolhesse, pequeno e frio, dentro do peito. Não eram estrelas que alguma vez tivesse visto. Imóveis, sem piscar, luziam. Eram aquelas estrelas que não se põem nem nascem, nem são alguma vez ocultas por nuvem nenhuma, nem empalidecem sob Sol algum. Quietas e pequenas, luzem sobre a terra árida.
Gued começou a caminhar, descendo pelo lado de lá do monte do ser e, passo a passo, Arren seguiu-o. Havia nele um terror. No entanto, tão determinado estava o seu coração, tão firme a sua vontade, que o medo não o governava, nem tinha sequer clara consciência dele. Era apenas como se alguma coisa se afligisse no mais fundo do seu ser, tal um animal fechado numa sala e acorrentado.
Parecia que tinham percorrido uma grande distância descendo aquela encosta, mas talvez o caminho fosse curto afinal. Porque ali, onde nenhum vento soprava e as estrelas não se moviam, não havia passagem do tempo. Chegaram então às ruas de uma das cidades que ali existem, e Arren viu as casas com as janelas que nunca se iluminam e, em certas entradas, de pé, com rostos parados e mãos vazias, os mortos.
Todas as praças de mercado estavam vazias. Ali não havia vender nem comprar, nem ganhar nem gastar. Nada era usado, nada era feito. Gued e Arren percorreram sozinhos as estreitas ruas, embora por vezes avistassem uma figura a virar a esquina de outra rua, distante e mal visível na obscuridade. Da primeira vez que viu tal coisa, Arren sobressaltou-se e ergueu a espada para apontar o que vira, mas Gued sacudiu a cabeça e prosseguiu. Arren viu então que a figura era de uma mulher que se movia lentamente, sem fugir deles.
Todos os que viram — não muitos, porque os mortos são em grande número, mas aquela terra é vasta — permaneciam quietos ou moviam-se lentamente, sem qualquer finalidade. Nenhum deles ostentava ferimentos, como acontecera com a imagem de Erreth-Akbe invocado para a luz do Sol e no lugar da sua morte. Também não havia neles sinais de doença. Estavam intactos e curados. Curados de dor e de vida. Não eram abomináveis como Arren temera que fossem, nem assustadores do modo como pensara que seriam. Os seus rostos eram parados, libertos de paixão e de desejo, e nos seus olhos ensombrados não havia esperança.
E então, em vez de medo, foi uma imensa piedade que brotou em Arren e, se algum medo havia a sublinhá-la, não era por ele próprio, mas por todas as pessoas. Porque viu a mãe e o filho que tinham morrido juntos e juntos estavam na terra tenebrosa. Mas a criança não corria, nem chorava, e a mãe não a segurava ou sequer a olhava. E aqueles que tinham morrido por amor passavam uns pelos outros nas ruas, indiferentes.
A roda do oleiro estava parada, o tear vazio, o forno frio. Nenhuma voz cantava.
As ruas escuras entre as escuras casas continuavam sempre e sempre, e eles passavam por elas. O único som era o dos seus pés. Estava frio. Arren não notara esse frio a princípio, mas ele introduziu-se no seu espírito que, ali, era também a sua carne. Sentia-se muito cansado. Deviam ter percorrido um longo caminho. «Para quê continuar?» pensou e os seus passos fizeram-se um pouco mais lentos.
Gued estacou subitamente, voltando-se para encarar um homem que se encontrava no cruzamento de duas ruas. Era um homem alto e esguio, com um rosto que Arren teve a sensação de já ter visto, embora não conseguisse lembrar-se onde. Gued falou-lhe e nenhuma outra voz quebrara até aí o silêncio, desde que haviam passado o muro de pedras.
— Ó Thórione, meu amigo, como é possível estares aqui? E estendeu as mãos para o Mestre da Invocação de Roke. Em Thórione não houve um gesto a corresponder. Manteve-se parado, como parado estava o seu rosto. Mas a luz prateada do bordão de Gued brilhou profundamente sobre os olhos ensombrados produzindo neles uma breve luz ou encontrando-a. Gued tomou nas suas a mão que não se lhe oferecia e insistiu:
— Que fazes tu aqui, Thórione? Tu ainda não és deste reino. Regressa!
— Eu segui aquele que não morre. Perdi o meu caminho. A voz do Invocador era suave e sem expressão, como a de alguém que fala durante o sono.
— Para cima, em direção ao muro — indicou Gued, apontando o caminho por onde ele e Arren tinham vindo, a longa e escura rua a descer. A estas palavras, houve como um tremor no rosto de Thórione, qual se alguma esperança tivesse penetrado nele como a lâmina de uma espada, intolerável.
— Eu não posso encontrar o caminho — pronunciou. — Meu Senhor, não posso encontrar o caminho.
Mas Gued disse:
Читать дальше