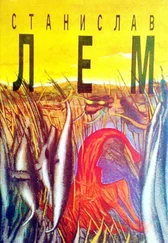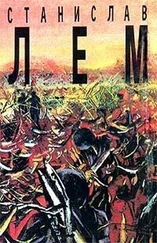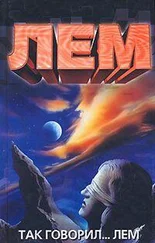A respirar com dificuldade, parei junto da piscina e sentei-mé na borda de cimento. Baixei a cabeça e vi as estrelas reflectidas na água. Mas não queria as estrelas. Não as queria para nada. Estivera louco, dementado, quando lutara para conseguir um lugar na expedição, quando permitira que me transformassem num saco sangrento nos gravi-rotores. Que razão tivera para fazer isso e por que motivo não compreendera que um homem deve ser vulgar, completamente vulgar, pois de contrário é impossível, e inútil, viver?
Ouvi uma restolhada. Eles passaram por mim. Ele enlaçava-a e caminhavam com o mesmo passo. Ele inclinou-se. As sombras das suas cabeças fundiram-se.
Levantei-me. Ele beijava-a. Ela abraçava-lhe a cabeça. Vi os contornos pálidos dos braços dela. Depois traspassou-me como uma faca um sentimento de vergonha, de vergonha como nunca sentira, horrível e nauseante. Eu, viajante interstelar, companheiro de Arder, regressara, encontrava-me num jardim e só pensava na maneira de tirar uma rapariga a um homem qualquer, sem saber nada dele nem dela. Era um pulha, um pulha das estrelas sem atenuantes, pior, pior do que isso…
Não pude olhar. Mas olhei. Por fim, eles retrocederam devagar, agarrados um ao outro, e eu contornei a piscina e parti de novo. Depois vi uma grande sombra preta e ao mesmo tempo embati em qualquer coisa com as mãos. Era um carro. Às apalpadelas, encontrei a porta. Quando a abri, acendeu-se uma luz.
Tudo quanto fiz a partir desse momento foi com uma pressa deliberada, concentrada, como se devesse ir a algum lado, como se tivesse de ir…
O motor reagiu. Girei o volante e, de faróis acesos, saí para a estrada. As mãos tremiam-me um pouco e, por isso, apertei o volante com mais força. De súbito, lembrei-me da pequenina caixa preta. Travei bruscamente, saí da estrada a derrapar, apeei-me de um salto, levantei a capota e comecei a procurá-la febrilmente. Não conseguia encontrá-la, o motor era completamente diferente. Talvez mesmo à frente… Fios. Um bloco de ferro fundido.
Uma cassette. Qualquer coisa estranha, quadrada… sim, era isso. Ferramentas. Trabalhei furiosamente, mas com cuidado. Quase não ensanguentei as mãos. Por fim, levantei o cubo preto, pesado como se fosse de metal sóhdo, e atirei-o para o mato ao longo do lado da estrada. Estava livre. Bati com a porta e arranquei. O ar começou a assobiar. Mais velocidade. O motor rugia, os pneus emitiam um silvo penetrante. Uma curva. Lancei-me nela sem afrouxar, guinei para a esquerda, saí da curva. Outra, mais apertada. Senti uma enorme força a empurrar-me, juntamente com o veículo, para o lado de fora da curva. Mas ainda não era o suficiente. Na próxima curva. Em Apprenous tinham carros especiais para pilotos. Fazíamos proezas neles, para melhorar os reflexos. Excelente treino. Também desenvolvia um sentido de equilíbrio. Por exemplo, numa curva lançava-se o carro nas duas rodas exteriores e conduzia-se um bocado assim. Fora capaz de fazer isso, em tempos. E voltei a fazê-lo naquele momento, na auto-estrada deserta, lançado através da escuridão rasgada pelos meus faróis. Não que quisesse matar-me. O que acontecia, simplesmente, era que nada me importava. Se não demonstrava nenhuma misericórdia pelos outros também a não podia ter por mim próprio. Lancei o carro na curva e levantei-o, de modo que, por um momento, foi de lado, com os pneus a gritar; seguidamente, atirei-o de novo na direcção oposta e embati com a retaguarda em qualquer coisa escura — uma árvore? Depois só havia o rugido do motor a adquirir velocidade, e os reflexos pálidos dos mostradores do painel, e o vento a assobiar ferozmente. Em seguida vi, à minha frente, um gleeder. Tentou evitar-me chegando-sè para a beirinha da estrada. Um pequeno movimento do volante permitiu-me passar por ele. Mas o meu pesado veículo girou como um pião, houve um choque surdo, o barulho de metal lacerado e escuridão. Os faróis estavam espatifados, o motor parado.
Respirei fundo. Não me acontecera nada, nem uma beliscadura. Experimentei os faróis. Naaa, Tentei com os farolins da frente. O esquerdo funcionou. À sua fraca luz liguei o motor. O carro, a gemer, manquejou para a auto-estrada. Uma excelente máquina, apesar de tudo. Ainda me obedecia, depois daquilo a que a expusera. Voltei para trás, mais devagar. Mas o meu pé premiu o pedal, voltou a entrar em mim qualquer coisa quando vi aproximar-se uma curva. E de novo exigi o máximo ao motor, até que, com os pneus a chiar, impelido para a frente pelo ímpeto, me encontrei defronte da sebe. Conduzi o carro para os arbustos. Afastando para o lado os ramos, acabou por parar encostado a um toco de árvore. Como não queria que ninguém soubesse o que lhe fizera, arranquei alguns ramos e coloquei-os sobre a capota e os faróis partidos. Havia apenas uma pequena amolgadela na retaguarda, da primeira colisão com o que quer que fosse, na escuridão.
Escutei. A casa estava às escuras. Reinava o silêncio. O grande silêncio da noite que chegava às estrelas. Não queria voltar para dentro. Afastei-me do carro amachucado e quando a erva — a erva alta e húmida — me chegou aos joelhos, deixei-me cair e fiquei assim até os olhos se me fecharem e adormecer.
Acordou-me uma gargalhada, que reconheci. Soube quem era antes de 112
abrir os olhos, instantaneamente acordado. Estavà encharcado, não havia nada que não escorresse orvalho. O Sol ainda estava baixo. O céu, tufos de nuvens brancas e. defronte de mim, sentado numa pequena mala, Olaf a rir. Levantámo-nos ao mesmo tempo. A sua mão era como a minha, tão grande e tão dura como ela.
— Quando chegaste?
— Há um momento.
— De ulder?
— Sim. Também dormi assim, nas duas primeiras noites.
— Sim?
Deixou de sorrir e eu também. Como se qualquer coisa se erguesse entre nós. Estudámo-nos mutuamente.
Ele era da minha altura, talvez até um pouco mais alto, mas mais delgado. À luz forte, o seu cabelo, embora escuro, denunciava a sua origem escandinava e a barba de um dia era completamente loura. Nariz curvo, cheio de carácter, e um lábio superior curto, que lhe mostrava os dentes. Os seus olhos, que sorriam facilmente, eram de um azul-pálido que escurecia quando sorria; lábios finos, com um ligeiro e eterno arquear, como se aceitasse tudo com cepticismo — talvez fosse essa sua expressão que nos fazia manter uma certa distância um do outro. Olaf era dois anos mais velho do que eu: o seu melhor amigo tinha sido Arder. Só depois de Arder morrer nos tomáramos íntimos. Para sempre, agora.
— Deves estar com fome, Olaf. Vamos arranjar qualquer coisa para comer.
— Espera. Que é aquilo?
Segui a direcção do seu olhar.
— Ah. aquilo!.. Nada… Um carro. Comprei-o… para me recordar.
— Tiveste um acidente?
— Tive. Estava a conduzir à noite, compreendes…
— Tu, um acidente? — repetiu.
— Tive, pronto. Mas nada de importante. De qualquer modo, não aconteceu nada. Vamos, não vais ficar aí parado, com essa mala…
Pegou na mala sem dizer nada. Não òlhou para mim. Os músculos do seu queixo retesaram-se.
«Desconfia de qualquer coisa», pensei. «Não sabe o que causou o acidente, mas desconfia…»
No andar de cima, disse-lhe que escolhesse um dos quatro quartos vazios. Escolheu aquele de onde se viam as montanhas.
— Porque não o quiseste? — perguntou-me e depois sorriu. — Já sei! Por causa dos dourados, não foi?
— Foi.
Tocou na parede com a mão.
— Vulgar, espero? Nem imagens, nem televisão?
— Fica tranquilo. — Foi a minha vez de sorrir. — É umá parede normal.
Telefonei a pedir o pequeno-almoço. Queria que comêssemos sozinhos.
O robot branco trouxe café. E um tabuleiro cheio, com um pequeno-almoço farto. Vi-o comer com prazer. Mastigava de tal maneira que um tufo de cabelo, por cima de uma orelha, se mexia. Quando acabou, perguntou-me:
Читать дальше