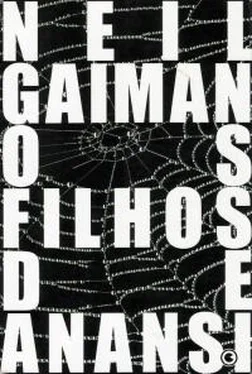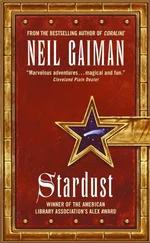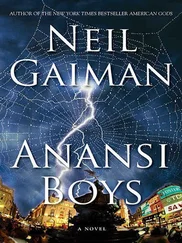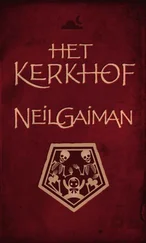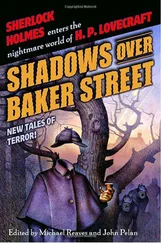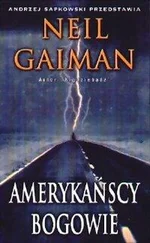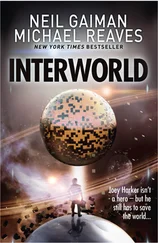Você sabe como é. Você pega um livro, vai até a dedicatória e, mais uma vez, descobre que o autor dedicou o livro a outra pessoa.
Mas não desta vez.
Nós ainda não nos encontramos/temos uma relação distante/somos loucos um pelo outro/não nos vemos há muito tempo/nunca nos encontraremos, mas apesar disso, creio eu, sempre pensaremos com carinho um no outro...
Este livro é dedicado a você.
Você sabe com o quê, e provavelmente também sabe por quê.
NOTA: o autor gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma respeitosa reverência aos espíritos de Zora Neale Hurston, Thorne Smith, P. G. Wodehouse e Frederick “Tex” Avery.
1
O qual basicamente discorre a respeito de nomes e laços familiares
Esta história começa, assim como a maioria das coisas, com uma música.
Afinal de contas, no começo havia as palavras, e elas vinham acompanhadas de uma melodia. Foi assim que o mundo foi feito, que o vazio foi dividido e que a terra, as estrelas, os sonhos, os pequenos deuses e os animais vieram ao mundo.
Eles foram cantados.
Os grandes animais foram cantados para a existência depois que o Cantor já havia criado os planetas, as colinas, as árvores, os oceanos e os pequenos animais. Os penhascos que cercam a existência foram cantados, assim como os campos de caça e a escuridão.
As canções permanecem. Elas perduram. A canção certa pode fazer um imperador tornar-se motivo de chacota, pode arruinar toda uma dinastia. Uma canção pode permanecer depois de os acontecimentos e as pessoas nela descritos terem se transformado em pó, em sonhos e morrido. Esse é o seu poder.
Há outras coisas que podemos fazer com as músicas. Elas não apenas criam mundos ou recriam a existência. O pai de Fat Charlie Nancy, por exemplo, utilizou-as apenas para ter aquilo que esperava ser uma noitada maravilhosa.
Antes de ele entrar no bar, o barman achava que aquela noite de karaokê seria um fracasso total. Mas então o velhinho entrou requebrando no recinto e passou pela mesa em que estavam sentadas várias loiras recém-bronzeadas com seus sorrisos de turistas, perto do pequeno palco improvisado num canto. Cumprimentou-as com a aba do chapéu — ele usava um chapéu, um impecável chapéu panamá verde, e luvas verde-limão — e caminhou até a mesa. Elas deram risadinha.
— As moças estão se divertindo? — perguntou.
Elas continuaram a rir e disseram que estavam se divertindo, “sim, obrigada”, e que estavam ali de férias. Ele disse a elas que ficaria ainda melhor, bastava esperar.
Era mais velho que elas, bem mais velho, mas era o charme em pessoa, alguém que vinha de uma era remota em que os bons modos e a cortesia ainda valiam alguma coisa. O barman tranqüilizou-se. Com alguém assim no bar, aquela seria uma boa noite.
Teve karaokê. Teve gente dançando. O velho levantou-se para cantar no palco improvisado não apenas uma vez, mas duas. Tinha uma bela voz, um lindo sorriso e pés que produziam um som de sapateado enquanto ele dançava. Na primeira vez em que subiu ao palco, cantou “What’ s New Pussycat?” Na segunda, arruinou a vida de Fat Charlie.
Fat Charlie só tinha sido gordo durante alguns poucos anos, desde pouco antes de completar 10 anos de idade — quando sua mãe anunciou ao mundo que, se havia uma coisa que ela não agüentava mais (e, se o cavalheiro em questão tivesse alguma objeção, poderia enfiá-la você sabe muito bem onde), era o seu casamento com aquele bode velho com o qual tinha cometido o infeliz erro de se casar, e o qual ela abandonaria na manhã seguinte para ir a algum lugar muito, muito distante, e era melhor ele não segui-la — até seus 14 anos, quando cresceu um pouco e começou a fazer mais exercícios físicos. Ele não era gordo. Para falar a verdade, não era nem mesmo gordinho. Apenas tinha aquela aparência de quem tem a barriga meio mole. Mas o nome Fat Charlie grudou nele como chiclete na sola do sapato. Ele se apresentava como Charles ou, na época em que tinha 20 e poucos anos, como Chaz ou, quando escrevia, como C. Nancy, mas não adiantava: o nome infiltrava-se insidiosamente nas novas fases de sua vida como as baratas invadem as reentrâncias atrás da geladeira numa nova cozinha. Gostasse ou não — e ele não gostava —, voltava a ser Fat Charlie.
Ele sabia, em seu inconsciente, que isso acontecia porque havia sido seu pai quem lhe dera o apelido e, quando seu pai dava um nome às coisas, esse nome colava.
Na Flórida havia um cachorro que vivia na casa em frente, do outro lado da rua onde Fat Charlie cresceu. Era um boxer castanho, de pernas compridas e orelhas pontudas. Tinha um focinho que fazia você pensar que o animal havia dado de cara com uma parede quando era filhote. A cabeça era altiva, o pequeno rabo, ereto. Sem dúvida, um aristocrata entre os cães. Participara de competições caninas. Tinha medalhas de Melhor da Raça e Melhor da Classe e até mesmo uma medalha de Melhor da Competição. O nome do cão era Campbell s Macinrory Arbuthnot VII, e seus donos, depois de ganhar mais intimidade com ele, o chamavam de Kai. Isso durou até o dia em que o pai de Fat Charlie, sentado na cadeira de balanço de sua varanda mal-cuidada, tomando goles de sua cerveja, notou o cão enquanto ele andava calmamente para lá e para cá no quintal do vizinho, preso a uma coleira que se estendia desde uma palmeira até a cerca.
— Que cachorro mais pateta — disse o pai de Fat Charlie. — Igual àquele amigo do Pato Donald. Ô Pateta.
E o que certa vez havia sido o Melhor da Competição perdeu de repente seu charme. Para Fat Charlie, era como se visse o cão através dos olhos de seu pai. E aquele era um cachorro bem pateta se você reparasse bem. Quase desastrado.
Não demorou muito para que o nome se espalhasse por toda a rua. Os donos de Campbell s Macinrory Arbuthnot VII lutaram contra o nome, mas era como discutir com um furacão em vez de correr. Estranhos acariciavam a antes orgulhosa cabeça do cão e diziam: “Oi, Pateta. Como vai esse garoto?”. Os donos pararam de inscrevê-lo nas competições caninas logo depois. Não tinham coragem. “Ele tem um jeito meio abobalhado”, comentavam os jurados.
Os nomes que o pai de Fat Charlie dava às coisas pegavam. Era assim e pronto.
Mas isso estava longe de ser a pior coisa a respeito dele.
Durante a infância de Fat Charlie, surgiram várias candidatas ao posto de pior coisa a respeito de seu pai: seus olhos estavam sempre ávidos por outras mulheres, e o mesmo acontecia com seus dedos, pelo menos de acordo com as jovens do local, que reclamavam para a mãe de Fat Charlie — e aí ele ficava em maus lençóis; as cigarrilhas pretas que fumava, as quais ele chamava de charutos e deixavam um cheiro que se impregnava em tudo o que ele tocasse; seu apreço por um peculiar estilo de sapateado arrastado, que devia ter sido moda, pensava Fat Charlie, por no máximo meia hora no Harlem na década de 20; sua absoluta e imutável ignorância sobre os assuntos contemporâneos do mundo, aliada à sua aparente convicção de que os seriados de comédia da TV eram um jeito de vivenciar por meia hora a vida e os problemas de pessoas reais. De acordo com Fat Charlie, essas não eram, pelo menos isoladamente, as piores coisas a respeito de seu pai, embora cada uma delas contribuísse para a pior coisa.
A pior coisa a respeito do pai de Fat Charlie era simplesmente isso: ele era constrangedor.
Claro, todos os pais são constrangedores. Faz parte. A natureza deles é nos deixar constrangidos simplesmente por existirem, assim como é a natureza das crianças de certa idade se retorcerem de constrangimento, vergonha e mortificação caso seus pais simplesmente lhes dirijam a palavra na rua.
O pai de Fat Charlie, é claro, fazia disso uma arte, e se divertia com isso, assim como se divertia com suas “pegadinhas”, desde as mais simples — Fat Charlie jamais se esqueceria da primeira vez em que encontrara o lençol de sua cama dobrado de modo a não deixá-lo esticar as pernas — até as mais absurdamente complexas.
Читать дальше